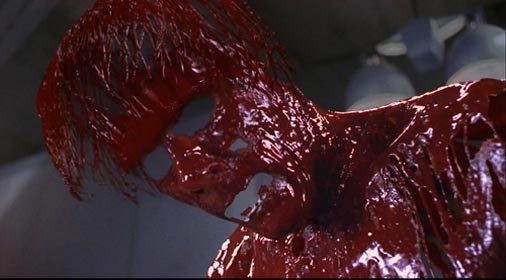O
HOMEM QUE NÃO ESTAVA LÁ (The man who wasn't there, 2001, Gramercy
Pictures/Good Machine, 116min) Direção: Joel Coen. Roteiro: Ethan Coen,
Joel Coen. Fotografia: Roger Deakins. Montagem: Roderick Jaynes, Tricia
Cooke. Música: Carter Burwell. Figurino: Mary Zophres. Direção de
arte/cenários: Dennis Gassner/Chris Spellman. Produção executiva: Tim
Bevan, Eric Fellner. Produção: Ethan Coen. Elenco: Billy Bob Thornton,
Frances McDormand, James Gandolfini, Michael Badalucco, Jon Polito,
Katherine Borowitz, Scarlett Johansson, Richard Jenkins, Tony Shalhoub.
Estreia: 13/5/01 (Festival de Cannes)
Indicado ao Oscar de Fotografia
A
estreia dos irmãos Coen em 1984 - o inteligente "Gosto de sangue", que
os revelou à crítica como a grande promessa da década - era uma
releitura moderna do filme noir, gênero caríssimo do cinema
norte-americano. A partir de então, os cineastas entraram em uma jornada
artística que virou do avesso a comédia, os filmes de gângsteres e os
filmes musicais e policiais com doses generosas de humor negro e um
qualidade narrativa que encantou os espectadores, sempre confiantes de
que, sob sua assinatura, histórias sempre criativas e elegantes fazem a
diferença na mesmice do cinemão comercial hollywoodiano. Outro exemplo
dessa afirmação é o contemplativo "O homem que não estava lá", belíssimo
drama policial que revisita o noir com ainda mais propriedade de seu
primeiro filme. Em um hipnotizante preto-e-branco de Roger Deakins
(filmado em cores e depois alterado para maior efeito dramático) e com
uma atuação inspiradíssima de Billy Bob Thornton no papel central, a
história de traição, morte e desenganos criada pelos cineastas é um dos
mais bem-acabados trabalhos de sua carreira até então - o que não é
pouco para quem criou pérolas como "Fargo" (96) e "E aí, meu irmão, cadê
você?" (00).
Passado em uma cidade do interior da
Califórnia em 1949, "O homem que não estava lá" conta a história de Ed
Crane (Billy Bob Thornton), que leva um dia-a-dia tedioso trabalhando na
barbearia do cunhado Frank (Michael Badalucco) enquanto examina
silenciosamente a vida se desenrolando à sua volta. Um dia, por acaso,
ele se vê tentado a investir em um negócio de lavagem a seco e, para
conseguir os dez mil dólares necessários para a sociedade, passa a
chantagear o empresário Big Dave Brewster (James Gandolfini), chefe e
amante de sua mulher, Doris (Frances McDormand). Sua chantagem acaba
tragicamente com a morte de Big Dave e sua vida se transforma em um
pesadelo surreal quando Doris é presa pelo crime. Sabendo da verdade
sobre o assassinato mas sem poder provar, Crane se vê envolvido em uma
trama que mistura advogados melodramáticos, uma viúva que acredita que
uma invasão extra-terrestre matou seu marido e Birdy (Scarlett
Johansson), uma adolescente que, através de sua música, seduz o durão e
silencioso barbeiro.
Usando
com maestria uma das maiores características do cinema noir - a
narração em off - "O homem que não estava lá" é construído
brilhantemente em todos os seus detalhes visuais e dramáticos,
oferecendo ao público um filme elegante e sério, repleto de camadas
dramáticas e desdobramentos inesperados que são tirados de letra por um
elenco espetacular. Billy Bob Thornton, que no mesmo ano viveu um
assaltante de bancos falastrão em "Vida bandida", de Barry Levinson, dá
um show na pele de Ed Crane, um homem tão lacônico quanto
psicologicamente violento que resolve o turbilhão de sua existência com a
mesma expressão de paisagem que utiliza quando corta o cabelo de seus
clientes. Frances McDormand mais uma vez comprova a extensão de seu
talento na pele da infiel esposa de Crane, com uma interpretação também
minimalista e delicada e James Gandolfini não se deixa eclipsar por seus
colegas e cria uma espécie de vilão com a gama de nuances que fez sua
fama na série de TV "A família Soprano". Seguindo um roteiro preciso e
econômico, eles são os responsáveis por dar credibilidade a uma trama
recheada de reviravoltas rocambolescas e inusitadas.
Com
sequências milimetricamente elaboradas para encantar os olhos do
espectador - não à toa sua fotografia concorreu ao Oscar da categoria -
"O homem que não estava lá" é mais um grande filme dos irmãos Coen:
inteligente, forte, plasticamente deslumbrante e dirigido com firmeza.
Talvez seja mais lento do que o público esteja acostumado, mas tem
qualidades mais do que suficientes para neutralizar seu ritmo pouco ágil
- que, diga-se de passagem, é extremamente apropriado à narrativa
ambicionada pelos cineastas. Um filme que Humphrey Bogart protagonizaria
sem hesitação.
Filmes, filmes e mais filmes. De todos os gêneros, países, épocas e níveis de qualidade. Afinal, a sétima arte não tem esse nome à toa.
quinta-feira
quarta-feira
ANTES DO ANOITECER
ANTES
DO ANOITECER (Before night falls, 2000, El Mar Pictures/Grandview
Pictures, 133min) Direção: Julian Schnabel. Roteiro: Cunningham O'Keefe,
Lazaro Gomez Carriles, Julian Schnabel, livro de Reinaldo Arenas e
documentário "Havana", de Jana Bokova. Fotografia: Xavier Pérez Grobet,
Guillermo Rosas. Montagem: Michael Berenbaum. Música: Carter Burwell.
Figurino: Mariestela Fernández. Direção de arte/cenários: Salvador
Parra/Laurie Friedman. Produção executiva: Olatz Lopez Garmendia, Julian
Schnabel. Produção: Jon Kilik. Elenco: Javier Bardem, Johnny Depp, Sean
Penn, Diego Luna, Olivier Martinez. Estreia: 03/9/00 (Festival de
Veneza)
Indicado ao Oscar de Melhor Ator (Javier Bardem)
Poeta, escritor e dramaturgo cubano que abandonou a ilha devido à perseguição do governo de Fidel Castro - que não aceitava sua homossexualidade aberta e seus ataques explícitos à revolução - Reinaldo Arenas encontrou em Nova York, onde se estabeleceu no início da década de 80, o lugar ideal para usufruir de sua liberdade pessoal e intelectual, até que o vírus da AIDS interrompeu uma importante trajetória literária, cujo auge foi sua autobiografia, lançada dez anos depois de sua morte. Retratada em sua poesia dura e melancólica, a vida de Arenas, repleta de lances dramáticos é a base da versão para as telas de seu livro póstumo, "Antes do anoitecer", que, sob a direção sensível e igualmente lírica de Julian Schnabel - cujo currículo já incluía "Basquiat, traços de uma vida" (96), cinebiografia do artista plástico que também foi vítima da AIDS - se equilibra entre a narrativa convencional e rasgos de criatividade que nem sempre convivem em harmonia dentro do resultado final.
Apesar de contar a história de Arenas desde sua infância, no interior do país e sem a presença paterna, "Antes do anoitecer" concentra-se principalmente na juventude do escritor, quando, já em Havana, vê florescer em si seu talento como escritor, sua sexualidade pouco conveniente à sociedade conservadora de Cuba e sua tendência em lutar contra o governo (mesmo que a princípio tenha sido favorável à revolução) - fatores que o levam a uma sistemática perseguição que resultou em constantes prisões e torturas. Mantendo-se fiel à autobiografia de Arenas, um livro de memórias atípico que mistura passagens de uma crueza ímpar a poesia, narração de sonhos e pesadelos alucinantes, o filme de Schnabel convida o espectador a uma viagem recheada de imagens cuidadosamente planejadas - a fotografia em tons ocres transmite com perfeição o clima quente da capital cubana e a trilha sonora (que tem o reforço de Lou Reed e Laurie Anderson) ilustra com inteligência o tênue equilíbrio entre a liberdade da personalidade de Arenas com a repressão do governo de Fidel - até mesmo nas sequências em que o protagonista é preso e interrogado (em uma participação especial de um Johnny Depp tentando controlar sua tendência ao excesso) o cineasta jamais perde a mão em sua busca de evitar a violência, optando pelo lirismo e pela fantasia, felizmente encontrando um intérprete genial em Javier Bardem, merecidamente indicado ao Oscar por seu desempenho.
Mesclando fragilidade e um estoicismo que faz de Reinaldo Arenas uma força da natureza, Bardem - então um ator conhecido apenas no mercado espanhol, o que deixa sua lembrança pela Academia ainda mais impressionante - domina a cena do filme de Schnabel mesmo que em vários momentos o roteiro, em sua obsessão de manter-se fiel ao livro que lhe deu origem, careça de um foco mais definido e dilua os dramas de seu protagonista em sequências desnecessariamente longas, como aquela que mostra a tentativa de fuga de um grupo de cubanos através de um balão, antecedida por uma cena que reflete o tom de festa constante do submundo cubano que funciona poeticamente mas quebra o ritmo cinematográfico. Também é um pecado do roteiro não deixar claro o tipo de relacionamento entre Arenas e Lázaro (Olivier Martinez), que se torna seu leal e compreensivo companheiro de apartamento em Nova York até sua angustiante morte, com a AIDS o obrigando a abreviar uma trajetória que poderia ser ainda mais brilhante e provocativa.
Dono de uma personalidade própria, que o distingue das cinebiografias convencionais, "Antes do anoitecer" deve seu bom-gosto ao diretor Julian Schnabel, que imprime em cada cena um visual que aproxima o espectador da história que está sendo contada. A interpretação intensa de Javier Bardem - convincente em sua fase adolescente e avassalador em seus dias adultos - apresenta Reinaldo Arenas ao público como um homem sensível mas disposto a enfrentar qualquer luta, seja no âmbito pessoal e sexual ou no contexto social. O equilíbrio atingido por Schnabel entre esse dois polos é admirável, mesmo quando tal decisão soe algumas vezes como falta de foco. Porém, é preciso lembrar que o próprio livro de Arenas caracteriza-se por tal estrutura e é louvável o trabalho do diretor em transferir para as telas as palavras doloridas do escritor cubano. O ritmo pode não ser dos mais ágeis, mas "Antes do anoitecer" é um belo exemplo de cinema poético e sensorial que o cineasta aprimoraria no belo "O escafandro e a borboleta", lançado em 2007.
Indicado ao Oscar de Melhor Ator (Javier Bardem)
Poeta, escritor e dramaturgo cubano que abandonou a ilha devido à perseguição do governo de Fidel Castro - que não aceitava sua homossexualidade aberta e seus ataques explícitos à revolução - Reinaldo Arenas encontrou em Nova York, onde se estabeleceu no início da década de 80, o lugar ideal para usufruir de sua liberdade pessoal e intelectual, até que o vírus da AIDS interrompeu uma importante trajetória literária, cujo auge foi sua autobiografia, lançada dez anos depois de sua morte. Retratada em sua poesia dura e melancólica, a vida de Arenas, repleta de lances dramáticos é a base da versão para as telas de seu livro póstumo, "Antes do anoitecer", que, sob a direção sensível e igualmente lírica de Julian Schnabel - cujo currículo já incluía "Basquiat, traços de uma vida" (96), cinebiografia do artista plástico que também foi vítima da AIDS - se equilibra entre a narrativa convencional e rasgos de criatividade que nem sempre convivem em harmonia dentro do resultado final.
Apesar de contar a história de Arenas desde sua infância, no interior do país e sem a presença paterna, "Antes do anoitecer" concentra-se principalmente na juventude do escritor, quando, já em Havana, vê florescer em si seu talento como escritor, sua sexualidade pouco conveniente à sociedade conservadora de Cuba e sua tendência em lutar contra o governo (mesmo que a princípio tenha sido favorável à revolução) - fatores que o levam a uma sistemática perseguição que resultou em constantes prisões e torturas. Mantendo-se fiel à autobiografia de Arenas, um livro de memórias atípico que mistura passagens de uma crueza ímpar a poesia, narração de sonhos e pesadelos alucinantes, o filme de Schnabel convida o espectador a uma viagem recheada de imagens cuidadosamente planejadas - a fotografia em tons ocres transmite com perfeição o clima quente da capital cubana e a trilha sonora (que tem o reforço de Lou Reed e Laurie Anderson) ilustra com inteligência o tênue equilíbrio entre a liberdade da personalidade de Arenas com a repressão do governo de Fidel - até mesmo nas sequências em que o protagonista é preso e interrogado (em uma participação especial de um Johnny Depp tentando controlar sua tendência ao excesso) o cineasta jamais perde a mão em sua busca de evitar a violência, optando pelo lirismo e pela fantasia, felizmente encontrando um intérprete genial em Javier Bardem, merecidamente indicado ao Oscar por seu desempenho.
Mesclando fragilidade e um estoicismo que faz de Reinaldo Arenas uma força da natureza, Bardem - então um ator conhecido apenas no mercado espanhol, o que deixa sua lembrança pela Academia ainda mais impressionante - domina a cena do filme de Schnabel mesmo que em vários momentos o roteiro, em sua obsessão de manter-se fiel ao livro que lhe deu origem, careça de um foco mais definido e dilua os dramas de seu protagonista em sequências desnecessariamente longas, como aquela que mostra a tentativa de fuga de um grupo de cubanos através de um balão, antecedida por uma cena que reflete o tom de festa constante do submundo cubano que funciona poeticamente mas quebra o ritmo cinematográfico. Também é um pecado do roteiro não deixar claro o tipo de relacionamento entre Arenas e Lázaro (Olivier Martinez), que se torna seu leal e compreensivo companheiro de apartamento em Nova York até sua angustiante morte, com a AIDS o obrigando a abreviar uma trajetória que poderia ser ainda mais brilhante e provocativa.
Dono de uma personalidade própria, que o distingue das cinebiografias convencionais, "Antes do anoitecer" deve seu bom-gosto ao diretor Julian Schnabel, que imprime em cada cena um visual que aproxima o espectador da história que está sendo contada. A interpretação intensa de Javier Bardem - convincente em sua fase adolescente e avassalador em seus dias adultos - apresenta Reinaldo Arenas ao público como um homem sensível mas disposto a enfrentar qualquer luta, seja no âmbito pessoal e sexual ou no contexto social. O equilíbrio atingido por Schnabel entre esse dois polos é admirável, mesmo quando tal decisão soe algumas vezes como falta de foco. Porém, é preciso lembrar que o próprio livro de Arenas caracteriza-se por tal estrutura e é louvável o trabalho do diretor em transferir para as telas as palavras doloridas do escritor cubano. O ritmo pode não ser dos mais ágeis, mas "Antes do anoitecer" é um belo exemplo de cinema poético e sensorial que o cineasta aprimoraria no belo "O escafandro e a borboleta", lançado em 2007.
terça-feira
MISS SIMPATIA
MISS
SIMPATIA (Miss Congeniality, 2000, Castle Rock Entertainment/Village
Roadshow Pictures, 109min) Direção: Donald Petrie. Roteiro: Marc
Lawrence, Katie Ford, Caryn Lucas. Fotografia: László Kovács. Montagem:
Billy Weber. Música: Edward Shearmur. Figurino: Susie DeSanto. Direção
de arte/cenários: Peter Larkin/Barbara Haberecht, Randy Smith Huke.
Produção executiva: Bruce Berman, Marc Lawrence, Ginger Sledge.
Produção: Sandra Bullock. Elenco: Sandra Bullock, Michael Caine,
Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson. Estreia:
14/12/00
Depois de ter dirigido o ônibus ameaçado de explosão em "Velocidade máxima" (94) - um sucesso tão justo quanto inesperado - Sandra Bullock tornou-se, de imediato, em uma das maiores estrelas em ascensão do cinema americano. Filmes como "A rede" e "Enquanto você dormia" lotavam as salas de cinema simplesmente por tê-la em seus elencos, e o público parecia encantado com sua imagem de garota normal, tangível e esperta. Então, de uma hora pra outra, parecia que tal mágica havia acabado: com uma sucessão de más escolhas (incluindo um segundo capítulo de "Velocidade máxima", dessa vez a bordo de um navio), Bullock estava em vias de repetir o caminho de várias outras atrizes de sucesso efêmero, que sumiram diante da chegada de novos rostos e corpos. Foi então que uma comédia simples, direta e sem medo de ser popular lembrou o público que ela podia ser encantadora e carismática quando explorada devidamente. Com uma renda de mais de 100 milhões de dólares arrecadados nas salas americanas, "Miss Simpatia" devolveu à Sandra o título de grande estrela (ainda que por pouco tempo) e comprovou o poder da despretensão.
Sem ambições outras que não fazer rir e divertir o público por pouco menos de duas horas, "Miss Simpatia" é entretenimento garantido para quem gosta de Sandra Bullock e até para quem não nutre por ela a maior das simpatias. Graças a um roteiro com piadas ligeiras (apesar de previsíveis em alguns casos) e à participação de veteranos como Candice Bergen, William Shatner e Michael Caine - roubando a cena como um especialista em criar misses - o filme de Donald Petrie parte de uma piada única para conquistar a plateia com uma sucessão de gags visuais e verbais que o dotam de um ritmo agradável e ágil, capaz de agradar até ao mais exigente dos espectadores (exceto, é claro, aqueles que não se sentem atraídos pelo gênero em si). É difícil não se deixar conquistar pelo humor desprovido de intelectualidades e soltar uma ou outra gargalhada - se não por Bullock, ao menos pela crítica sem disfarces ao culto obsessivo pela superficialidade que domina os concursos de beleza (ainda que, no fundo, até mesmo consiga lhe ser simpática no cômputo final).
A trama é puro nonsense: um terrorista que anda desafiando a polícia e tem a alcunha de "Cidadão" ameaça, através de uma carta anônima, o concurso de Miss Estados Unidos, a ser realizado no Texas. A forma encontrada para evitar que o criminoso faça novas vítimas é infiltrar uma agente dentre as candidatas ao título. A missão acaba sobrando para Gracie Hart (Sandra Bullock), única mulher na corporação com as características necessárias para não despertar suspeitas... pelo menos a princípio, já que a jovem não é exatamente um modelo de feminilidade: desleixada, grosseira e sem o menor vestígio de vaidade, ela só aceita fazer parte da força-tarefa para limpar sua barra junto aos colegas, depois de ter sido quase responsável pela morte de um deles. Corajosa e inteligente, Gracie precisa apenas transformar-se completamente em uma cinderela, da noite para o dia, e para isso conta com a ajuda de Victor Melling (Michael Caine), outrora famoso e atualmente decadente coordenador dos mais importantes desfiles do país. Aos poucos, Gracie - uma feroz crítica do sistema machista dos concursos - vai se tornando uma mulher atraente, despertando a inesperada atração do colega Eric Matthews (Benjamin Bratt) e fazendo amizade com as demais candidatas. Suas confusões para chegar ao criminoso, porém, levam ao desespero a organizadora do show, Kathy Morningside (Candice Bergen), que vê na policial tudo que há de mais errado na nova geração de mulheres americanas.
Que não se espere de "Miss Simpatia" mais do que uma simpática, leve e realmente engraçada comédia de situações. Utilizando-se de uma premissa extremamente clichê (o mito de Pigmalião), o roteiro debocha dos concursos de beleza, brinca com as expectativas relativas a gêneros e, apesar das caras e bocas de Sandra Bullock - que frequentemente exagera na composição da personagem central - tem um elenco coadjuvante que vale a sessão: Michael Caine, Candice Bergen e William Shatner (como o veterano apresentador do concurso) estão sensacionais, roubando cada cena em que aparecem. Uma bola dentro na carreira de Sandra - que infelizmente não aprendeu a lição de "Velocidade máxima" e pouco tempo depois entraria em uma continuação das aventuras de Gracie Hart, mas dessa vez sem graça e sem sucesso.
Depois de ter dirigido o ônibus ameaçado de explosão em "Velocidade máxima" (94) - um sucesso tão justo quanto inesperado - Sandra Bullock tornou-se, de imediato, em uma das maiores estrelas em ascensão do cinema americano. Filmes como "A rede" e "Enquanto você dormia" lotavam as salas de cinema simplesmente por tê-la em seus elencos, e o público parecia encantado com sua imagem de garota normal, tangível e esperta. Então, de uma hora pra outra, parecia que tal mágica havia acabado: com uma sucessão de más escolhas (incluindo um segundo capítulo de "Velocidade máxima", dessa vez a bordo de um navio), Bullock estava em vias de repetir o caminho de várias outras atrizes de sucesso efêmero, que sumiram diante da chegada de novos rostos e corpos. Foi então que uma comédia simples, direta e sem medo de ser popular lembrou o público que ela podia ser encantadora e carismática quando explorada devidamente. Com uma renda de mais de 100 milhões de dólares arrecadados nas salas americanas, "Miss Simpatia" devolveu à Sandra o título de grande estrela (ainda que por pouco tempo) e comprovou o poder da despretensão.
Sem ambições outras que não fazer rir e divertir o público por pouco menos de duas horas, "Miss Simpatia" é entretenimento garantido para quem gosta de Sandra Bullock e até para quem não nutre por ela a maior das simpatias. Graças a um roteiro com piadas ligeiras (apesar de previsíveis em alguns casos) e à participação de veteranos como Candice Bergen, William Shatner e Michael Caine - roubando a cena como um especialista em criar misses - o filme de Donald Petrie parte de uma piada única para conquistar a plateia com uma sucessão de gags visuais e verbais que o dotam de um ritmo agradável e ágil, capaz de agradar até ao mais exigente dos espectadores (exceto, é claro, aqueles que não se sentem atraídos pelo gênero em si). É difícil não se deixar conquistar pelo humor desprovido de intelectualidades e soltar uma ou outra gargalhada - se não por Bullock, ao menos pela crítica sem disfarces ao culto obsessivo pela superficialidade que domina os concursos de beleza (ainda que, no fundo, até mesmo consiga lhe ser simpática no cômputo final).
A trama é puro nonsense: um terrorista que anda desafiando a polícia e tem a alcunha de "Cidadão" ameaça, através de uma carta anônima, o concurso de Miss Estados Unidos, a ser realizado no Texas. A forma encontrada para evitar que o criminoso faça novas vítimas é infiltrar uma agente dentre as candidatas ao título. A missão acaba sobrando para Gracie Hart (Sandra Bullock), única mulher na corporação com as características necessárias para não despertar suspeitas... pelo menos a princípio, já que a jovem não é exatamente um modelo de feminilidade: desleixada, grosseira e sem o menor vestígio de vaidade, ela só aceita fazer parte da força-tarefa para limpar sua barra junto aos colegas, depois de ter sido quase responsável pela morte de um deles. Corajosa e inteligente, Gracie precisa apenas transformar-se completamente em uma cinderela, da noite para o dia, e para isso conta com a ajuda de Victor Melling (Michael Caine), outrora famoso e atualmente decadente coordenador dos mais importantes desfiles do país. Aos poucos, Gracie - uma feroz crítica do sistema machista dos concursos - vai se tornando uma mulher atraente, despertando a inesperada atração do colega Eric Matthews (Benjamin Bratt) e fazendo amizade com as demais candidatas. Suas confusões para chegar ao criminoso, porém, levam ao desespero a organizadora do show, Kathy Morningside (Candice Bergen), que vê na policial tudo que há de mais errado na nova geração de mulheres americanas.
Que não se espere de "Miss Simpatia" mais do que uma simpática, leve e realmente engraçada comédia de situações. Utilizando-se de uma premissa extremamente clichê (o mito de Pigmalião), o roteiro debocha dos concursos de beleza, brinca com as expectativas relativas a gêneros e, apesar das caras e bocas de Sandra Bullock - que frequentemente exagera na composição da personagem central - tem um elenco coadjuvante que vale a sessão: Michael Caine, Candice Bergen e William Shatner (como o veterano apresentador do concurso) estão sensacionais, roubando cada cena em que aparecem. Uma bola dentro na carreira de Sandra - que infelizmente não aprendeu a lição de "Velocidade máxima" e pouco tempo depois entraria em uma continuação das aventuras de Gracie Hart, mas dessa vez sem graça e sem sucesso.
segunda-feira
MAIS QUE O ACASO
MAIS
QUE O ACASO (Bouce, 2000, Miramax, 106min) Direção e roteiro: Don Roos.
Fotografia: Robert Elswit. Montagem: David Codron. Música: Mychael
Danna, Dean Landon. Figurino: Peter Mitchell. Direção de arte/cenários:
David Wasco/Sandy Reynolds-Wasco. Produção executiva: Bob Osher, Meryl
Poster, Bob Weinstein, Harvey Weinstein. Produção: Michael Besman, Steve
Golin. Elenco: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Natasha Henstridge,
Jennifer Grey, Tony Goldwin, Caroline Aaron. Estreia: 17/11/00
Ben Affleck e Gwyneth Paltrow não estavam mais namorando quando contracenaram em "Mais que o acaso", mas é inegável que sua química é um dos maiores méritos do filme de Don Roos - exercitando um lado sério e romântico que havia deixado de lado em seu filme de estreia, a cínica comédia "O oposto do sexo", estrelada por Christina Ricci. Vivendo uma história de amor sustentada por uma mentira capaz de separá-los, seus personagens estão entre os mais consistentes de suas carreiras, confirmando o talento do cineasta/roteirista em criar tipos realistas e complexos, que seduzem o espectador justamente por sua capacidade de refletir sentimentos verdadeiros e banais - transformados, na tela, em dramas maiores que a vida.
Canastrão como sempre, mas apoiado em um roteiro inteligente, Affleck vive Buddy Amaral, um publicitário mulherengo que, prestes a embarcar em uma viagem de retorno a Los Angeles, decide mudar de ideia e passar a noite em Chicago com a bela Mimi Prager (Natasha Henstridge), aproveitando que seu voo está atrasado devido a uma forte nevasca. Em um ato de generosidade, ele troca de passagem com o aspirante a dramaturgo Greg Janello (Tony Goldwin), ansioso para retornar aos braços da esposa e dos dois filhos pequenos. Como o destino é muitas vezes traiçoeiro, o avião em que deveria viajar sofre um acidente fatal, que mata todos os passageiros e a tripulação. Mesmo consumido pela culpa, Buddy assume a campanha de marketing solicitada pela companhia aérea para limpar sua imagem e acaba se tornando viciado em álcool. Um ano depois, saindo da clínica de reabilitação e lutando para retomar sua vida normal, ele se aproxima de Abby (Gwyneth Paltrow, desglamourizada mas ainda assim belíssima), a viúva de Greg e, aos poucos, surge entre eles uma forte atração, que evolui para uma intensa história de amor. O fato de Buddy esconder de Abby os caminhos que o levaram até ela, no entanto, podem ameaçar a felicidade do relacionamento.
Sem recorrer a artifícios narrativos e optando por seu conhecido estilo claro e direto de contar uma história, Don Roos acerta mais uma vez. Brindando o público com diálogos naturais e personagens que se comportam como gente normal e verossímil, o cineasta não tem pressa em apresentar sua dupla central ou construir as bases para seu complicado relacionamento, oferecendo à plateia uma consistência das mais raras nos filmes românticos. Fugindo claramente às regras não escritas, ele até mesmo abre mão da maior característica do gênero - o alívio cômico - preferindo, ao invés disso, criar uma espécie de "grilo falante" para Buddy, um funcionário gay, também com problemas com álcool, que serve para empurrá-lo em direção à verdade e à recuperação de sua alma. Uma pena que Affleck não tenha suporte dramático o suficiente para explorar a contento todas as nuances do personagem, permanecendo apenas na superfície de todo o turbilhão emocional de Buddy. Felizmente sua parceira de cena consegue disfarçar tais fragilidades com um carisma e uma luz que justificam o questionável Oscar de melhor atriz que ganhou por "Shakespeare apaixonado": na pele da insegura e angustiada Abby Janello, Gwyneth Paltrow está madura, discreta e eficiente, emprestando brilho a uma personagem que, em outras mãos, poderia ser apenas insossa. Mesmo os detratores de Paltrow são obrigados a reconhecer que, a despeito de sua classe e elegância, a filha da também atriz Blythe Danner sai-se muito bem no papel dessa mulher de suburbano coração.
"Mais que o acaso" é uma história de amor simples e banal, que explora sentimentos e pessoas comuns em uma trama que, mesmo parecendo sinopse de telenovela, consegue retratar seu universo dramático sem apelar para as lágrimas fáceis ou reviravoltas maquiavélicas. É a vida como ela é, cheia de momentos intensos, pausas leves e felicidades efêmeras. Mais um belo filme de Don Roos.
Ben Affleck e Gwyneth Paltrow não estavam mais namorando quando contracenaram em "Mais que o acaso", mas é inegável que sua química é um dos maiores méritos do filme de Don Roos - exercitando um lado sério e romântico que havia deixado de lado em seu filme de estreia, a cínica comédia "O oposto do sexo", estrelada por Christina Ricci. Vivendo uma história de amor sustentada por uma mentira capaz de separá-los, seus personagens estão entre os mais consistentes de suas carreiras, confirmando o talento do cineasta/roteirista em criar tipos realistas e complexos, que seduzem o espectador justamente por sua capacidade de refletir sentimentos verdadeiros e banais - transformados, na tela, em dramas maiores que a vida.
Canastrão como sempre, mas apoiado em um roteiro inteligente, Affleck vive Buddy Amaral, um publicitário mulherengo que, prestes a embarcar em uma viagem de retorno a Los Angeles, decide mudar de ideia e passar a noite em Chicago com a bela Mimi Prager (Natasha Henstridge), aproveitando que seu voo está atrasado devido a uma forte nevasca. Em um ato de generosidade, ele troca de passagem com o aspirante a dramaturgo Greg Janello (Tony Goldwin), ansioso para retornar aos braços da esposa e dos dois filhos pequenos. Como o destino é muitas vezes traiçoeiro, o avião em que deveria viajar sofre um acidente fatal, que mata todos os passageiros e a tripulação. Mesmo consumido pela culpa, Buddy assume a campanha de marketing solicitada pela companhia aérea para limpar sua imagem e acaba se tornando viciado em álcool. Um ano depois, saindo da clínica de reabilitação e lutando para retomar sua vida normal, ele se aproxima de Abby (Gwyneth Paltrow, desglamourizada mas ainda assim belíssima), a viúva de Greg e, aos poucos, surge entre eles uma forte atração, que evolui para uma intensa história de amor. O fato de Buddy esconder de Abby os caminhos que o levaram até ela, no entanto, podem ameaçar a felicidade do relacionamento.
Sem recorrer a artifícios narrativos e optando por seu conhecido estilo claro e direto de contar uma história, Don Roos acerta mais uma vez. Brindando o público com diálogos naturais e personagens que se comportam como gente normal e verossímil, o cineasta não tem pressa em apresentar sua dupla central ou construir as bases para seu complicado relacionamento, oferecendo à plateia uma consistência das mais raras nos filmes românticos. Fugindo claramente às regras não escritas, ele até mesmo abre mão da maior característica do gênero - o alívio cômico - preferindo, ao invés disso, criar uma espécie de "grilo falante" para Buddy, um funcionário gay, também com problemas com álcool, que serve para empurrá-lo em direção à verdade e à recuperação de sua alma. Uma pena que Affleck não tenha suporte dramático o suficiente para explorar a contento todas as nuances do personagem, permanecendo apenas na superfície de todo o turbilhão emocional de Buddy. Felizmente sua parceira de cena consegue disfarçar tais fragilidades com um carisma e uma luz que justificam o questionável Oscar de melhor atriz que ganhou por "Shakespeare apaixonado": na pele da insegura e angustiada Abby Janello, Gwyneth Paltrow está madura, discreta e eficiente, emprestando brilho a uma personagem que, em outras mãos, poderia ser apenas insossa. Mesmo os detratores de Paltrow são obrigados a reconhecer que, a despeito de sua classe e elegância, a filha da também atriz Blythe Danner sai-se muito bem no papel dessa mulher de suburbano coração.
"Mais que o acaso" é uma história de amor simples e banal, que explora sentimentos e pessoas comuns em uma trama que, mesmo parecendo sinopse de telenovela, consegue retratar seu universo dramático sem apelar para as lágrimas fáceis ou reviravoltas maquiavélicas. É a vida como ela é, cheia de momentos intensos, pausas leves e felicidades efêmeras. Mais um belo filme de Don Roos.
domingo
NÁUFRAGO
NÁUFRAGO
(Cast away, 2000, 20th Century Fox/DreamWorks SKG, 143min) Direção:
Robert Zemeckis. Roteiro: William Broyles Jr.. Fotografia: Don Burgess.
Montagem: Arthur Schmidt. Música: Alan Silvestri. Figurino: Joanna
Johnston. Direção de arte/cenários: Rick Carter/Rosemary Brandenburg,
Karen O'Hara. Produção executiva: Joan Bradshaw. Produção: Tom Hanks,
Jack Rapke, Steve Starkey, Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks, Helen
Hunt, Chris Noth. Elenco: 07/12/00
2 indicações ao Oscar: Ator (Tom Hanks), Som
Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator/Drama (Tom Hanks)
A história da gênese de "Náufrago" - um projeto arriscado do cineasta Robert Zemeckis e do ator Tom Hanks que acabou se tornando um enorme sucesso de bilheteria e crítica - todo mundo conhece: para dar veracidade à história de um homem preso em uma ilha deserta, sem comida e sendo obrigado a aprender as regras de sobrevivência de um lugar até então inóspito e desconhecido, os dois interromperam as filmagens por um ano. Nesse meio-tempo, Hanks perdeu o peso que havia adquirido para criar seu personagem antes do acidente que o joga na ilha e Zemeckis concluiu outro filme - o suspense "Revelações", estrelado por Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. O fato é que, a despeito dessa curiosa e até hoje única particularidade, o filme que saiu dela é, ao contrário da maioria das produções cujas anedotas de bastidores são mais interessantes que o resultado final, digno dos mais entusiasmados aplausos. Com exceção de um posfácio um tanto redundante, "Náufrago" é um belíssimo trabalho de roteiro, ritmo, emoção e principalmente atuação. Não foi à toa que Hanks esteve bastante perto de abocanhar um terceiro Oscar de melhor ator - perdeu para Russell Crowe em "Gladiador", mas não deixou de ficar com um Golden Globe por seu desempenho antológico.
Depois das estatuetas douradas por "Filadélfia" e "Forrest Gump, o contador de histórias", Hanks arrancou elogios rasgados e unânimes na pele de Chuck Noland, um executivo da FedEx (a agência de Correios dos EUA) extremamente dedicado ao trabalho que deixa até menos sua relação com a namorada, Kelly (Helen Hunt) em segundo plano, priorizando sempre os prazos exatos prometidos aos clientes e a imagem da empresa. Às vésperas do Natal de 1995, porém, sua vida regrada e constantemente corrida sofre um abalo profundo: durante uma viagem a negócios, seu avião cai em algum ponto do Oceano Pacífico, matando toda a tripulação (seus colegas) e deixando-o à deriva, sob uma violenta tempestade. Sozinho em uma ilha - e sem nenhum tipo de apoio da tecnologia ou conforto moderno - Noland se vê obrigado, então, a tratar da própria sobrevivência. Para não morrer de fome ou sede, ele aprende a pescar, caçar, procurar água e construir uma cabana para se proteger das intempéries da natureza. Sua solidão é quebrada apenas pelas lembranças de sua relação com Kelly e por suas longas conversas com uma bola de vôlei - encomenda de um cliente que chega intocada à ilha, junto com ele. Batizando-a de Wilson, o poderoso e controlador executivo passa a perceber de forma diferente sua vida e suas prioridades.
Um Robinson Crusoé pós-moderno, Chuck Nolan recebe, das mãos hábeis e experientes de Tom Hanks, uma interpretação precisa, que dosa com exatidão momentos de economia dramática com outros onde o ator - que começou a carreira em comédias despretensiosas mas via de regra deliciosas - esbanja o carisma que fez dele um dos astros mais poderosos de Hollywood nos anos 90. Só mesmo alguém com todo o alcance histriônico de Hanks seria capaz de segurar, praticamente sozinho, duas horas e meia de um filme que - à exceção da primeira meia-hora e dos vinte minutos finais - trata-se basicamente de uma odisseia solitária e exasperante de um homem em confronto (e diálogo) constante com o mundo natural que o cerca. Se a transformação física do ator é impressionante (mas não inédita em sua trajetória, haja visto as alterações sofridas para "Uma equipe muito especial" e "Filadélfia"), ela não é mais fascinante do que aquela que se passa interiormente, quando o personagem - quase arrogante em sua pretensa superioridade ao mundo - se curva diante de forças maiores e reconhece sua insignificância em relação ao mundo. São em momentos assim - principalmente durante os diálogos de Nolan e um obviamente calado Wilson - que fazem de "Náufrago" mais do que simplesmente uma aventura dramática: é, principalmente, um show particular de um ator no auge de seu vigor técnico.
Porém, mesmo que Hanks domine o espetáculo do princípio ao fim, seria injusto não reconhecer o trabalho impecável de Robert Zemeckis, que teve a coragem de apostar em um filme com ritmo perceptivelmente mais lento do que a maioria das produções comerciais. Mesmo que mostre seu domínio técnico em sequências absolutamente perfeitas - como o acidente de avião - são nos momentos mais humanos que o diretor (acostumado a êxitos incontestes de bilheteria, como "Uma cilada para Roger Rabbit", "De volta para o futuro" e o próprio "Forrest Gump", que deu a ele e Hanks os prêmios da Academia) mostra que, mais do que pirotecnias visuais, ele também entende de contar histórias. Sem deixar que o ritmo de seu filme caia mesmo com apenas um personagem em cena, Zemeckis fez de uma aposta arriscada um sucesso extraordinário, com uma renda superior a 200 milhões de dólares somente no mercado doméstico (EUA e Canadá). Mereceu. "Náufrago" é um dos filmes memoráveis do final do século XX.
2 indicações ao Oscar: Ator (Tom Hanks), Som
Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator/Drama (Tom Hanks)
A história da gênese de "Náufrago" - um projeto arriscado do cineasta Robert Zemeckis e do ator Tom Hanks que acabou se tornando um enorme sucesso de bilheteria e crítica - todo mundo conhece: para dar veracidade à história de um homem preso em uma ilha deserta, sem comida e sendo obrigado a aprender as regras de sobrevivência de um lugar até então inóspito e desconhecido, os dois interromperam as filmagens por um ano. Nesse meio-tempo, Hanks perdeu o peso que havia adquirido para criar seu personagem antes do acidente que o joga na ilha e Zemeckis concluiu outro filme - o suspense "Revelações", estrelado por Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. O fato é que, a despeito dessa curiosa e até hoje única particularidade, o filme que saiu dela é, ao contrário da maioria das produções cujas anedotas de bastidores são mais interessantes que o resultado final, digno dos mais entusiasmados aplausos. Com exceção de um posfácio um tanto redundante, "Náufrago" é um belíssimo trabalho de roteiro, ritmo, emoção e principalmente atuação. Não foi à toa que Hanks esteve bastante perto de abocanhar um terceiro Oscar de melhor ator - perdeu para Russell Crowe em "Gladiador", mas não deixou de ficar com um Golden Globe por seu desempenho antológico.
Depois das estatuetas douradas por "Filadélfia" e "Forrest Gump, o contador de histórias", Hanks arrancou elogios rasgados e unânimes na pele de Chuck Noland, um executivo da FedEx (a agência de Correios dos EUA) extremamente dedicado ao trabalho que deixa até menos sua relação com a namorada, Kelly (Helen Hunt) em segundo plano, priorizando sempre os prazos exatos prometidos aos clientes e a imagem da empresa. Às vésperas do Natal de 1995, porém, sua vida regrada e constantemente corrida sofre um abalo profundo: durante uma viagem a negócios, seu avião cai em algum ponto do Oceano Pacífico, matando toda a tripulação (seus colegas) e deixando-o à deriva, sob uma violenta tempestade. Sozinho em uma ilha - e sem nenhum tipo de apoio da tecnologia ou conforto moderno - Noland se vê obrigado, então, a tratar da própria sobrevivência. Para não morrer de fome ou sede, ele aprende a pescar, caçar, procurar água e construir uma cabana para se proteger das intempéries da natureza. Sua solidão é quebrada apenas pelas lembranças de sua relação com Kelly e por suas longas conversas com uma bola de vôlei - encomenda de um cliente que chega intocada à ilha, junto com ele. Batizando-a de Wilson, o poderoso e controlador executivo passa a perceber de forma diferente sua vida e suas prioridades.
Um Robinson Crusoé pós-moderno, Chuck Nolan recebe, das mãos hábeis e experientes de Tom Hanks, uma interpretação precisa, que dosa com exatidão momentos de economia dramática com outros onde o ator - que começou a carreira em comédias despretensiosas mas via de regra deliciosas - esbanja o carisma que fez dele um dos astros mais poderosos de Hollywood nos anos 90. Só mesmo alguém com todo o alcance histriônico de Hanks seria capaz de segurar, praticamente sozinho, duas horas e meia de um filme que - à exceção da primeira meia-hora e dos vinte minutos finais - trata-se basicamente de uma odisseia solitária e exasperante de um homem em confronto (e diálogo) constante com o mundo natural que o cerca. Se a transformação física do ator é impressionante (mas não inédita em sua trajetória, haja visto as alterações sofridas para "Uma equipe muito especial" e "Filadélfia"), ela não é mais fascinante do que aquela que se passa interiormente, quando o personagem - quase arrogante em sua pretensa superioridade ao mundo - se curva diante de forças maiores e reconhece sua insignificância em relação ao mundo. São em momentos assim - principalmente durante os diálogos de Nolan e um obviamente calado Wilson - que fazem de "Náufrago" mais do que simplesmente uma aventura dramática: é, principalmente, um show particular de um ator no auge de seu vigor técnico.
Porém, mesmo que Hanks domine o espetáculo do princípio ao fim, seria injusto não reconhecer o trabalho impecável de Robert Zemeckis, que teve a coragem de apostar em um filme com ritmo perceptivelmente mais lento do que a maioria das produções comerciais. Mesmo que mostre seu domínio técnico em sequências absolutamente perfeitas - como o acidente de avião - são nos momentos mais humanos que o diretor (acostumado a êxitos incontestes de bilheteria, como "Uma cilada para Roger Rabbit", "De volta para o futuro" e o próprio "Forrest Gump", que deu a ele e Hanks os prêmios da Academia) mostra que, mais do que pirotecnias visuais, ele também entende de contar histórias. Sem deixar que o ritmo de seu filme caia mesmo com apenas um personagem em cena, Zemeckis fez de uma aposta arriscada um sucesso extraordinário, com uma renda superior a 200 milhões de dólares somente no mercado doméstico (EUA e Canadá). Mereceu. "Náufrago" é um dos filmes memoráveis do final do século XX.
sexta-feira
SNATCH - PORCOS E DIAMANTES
SNATCH
- PORCOS E DIAMANTES (Snatch., 2000, Columbia Pictures Corporation,
104min) Direção e roteiro: Guy Ritchie. Fotografia: Tim Maurice-Jones.
Montagem: Jon Harris. Música: John Murphy. Figurino: Verity Hawkes.
Direção de arte/cenários: Hugo Luczyc-Whyhowski. Produção executiva:
Stephen Marks, Peter Morton, Angad Paul, Trudie Styler, Steve Tisch.
Produção: Matthew Vaughn. Elenco: Benicio Del Toro, Brad Pitt, Dennis
Farina, Jason Statham, Vinnie Jones, Rade Serbedzija, Alan Ford, Jason
Flemyng, Ewen Bremner, Stephen Graham. Estreia: 23/8/00
À primeira vista, "Snatch - porcos e diamantes", segundo filme do cineasta inglês Guy Ritchie, parece uma espécie de continuação de seu primeiro trabalho, o incensado "Jogos, trapaças e dois canos fumegantes": gângsteres trapalhões, edição acelerada, um roteiro recheado de diálogos sarcásticos e politicamente incorretos e uma variedade insana de subtramas que se atropelam quase ao ponto da incompreensibilidade. Mas não é apenas a inclusão de nomes consagrados internacionalmente como Brad Pitt e Benicio Del Toro no elenco - ao lado dos colaboradores habituais do diretor - que faz dele mais do que isso. Mais experiente e confiante do que em sua estreia, Ritchie manteve todas as qualidades que fizeram dele um dos cineastas mais festejados de sua época e expandiu-as em uma comédia policial quase histérica que mistura humor e violência na medida exata.
Difícil de resumir - assim como acontecia com "Jogos, trapaças" - a trama de "Snatch" é uma miscelânea de histórias paralelas que convergem para um único (a absurdamente climático) desfecho. Jason Statham - um dos atores preferidos de Ritchie, antes de tornar-se astro do cinema de ação - interpreta Turkish, um gângster barato que, ao lado do eterno comparsa Tommy, se envolve no mundo das lutas de boxe comandadas pelo perigoso Brick Top (Alan Ford), que não hesita em comprar resultados para enriquecer ilicitamente. Tentando convencer o cigano Mickey O'Neill (Brad Pitt) a juntar-se a eles em seus esquemas fraudulentos, Turkish acaba no caminho de um grupo de ladrões de diamantes, comandado pelo misterioso Franky "Quatro dedos" (Benicio Del Toro), que, de posse de uma pedra gigantesca de 84 quilates, tenta vendê-la ao ambicioso Primo Avi (Dennis Farina) - até que ela é roubada por um bando de larápios pés-de-chinelo a mando do mafioso russo Boris "The Blade" (Rade Serbedzija). Aos poucos, todos cruzarão uns com os outros, com consequências inesperadas e surreais.
Guy Ritchie - dono de um senso de humor particular e por vezes nos limites do bom-gosto - usa e abusa de recursos estilísticos para sublinhar o tom quase de história em quadrinhos de seu filme, o que ajuda a amenizar a crueldade de algumas sequências (ainda que todas as mortes da trama aconteçam fora de cena). Editado com uma velocidade que deixa o espectador tonto de tanta informação, "Snatch" faz rir graças principalmente ao excesso de acontecimentos bizarros que toma conta da narrativa desde suas primeiras cenas - com direito a um assalto durante uma explicação sobre a tradução da Bíblia, bem ao estilo Quentin Tarantino - e às referências de cultura contemporânea - até mesmo a então esposa do diretor, Madonna, é citada indiretamente, com uma canção tocando no rádio de um carro - mas é inegável que boa parte da graça do filme reside na escalação certeira de Brad Pitt como o cigano boxeador de dicção ininteligível Mickey One Punch.
Dotado de um timing cômico impecável, Pitt - que telefonou para Ritchie se oferecendo para trabalhar com ele depois de uma sessão de "Jogos, trapaças" - rouba cada cena em que aparece como o truculento e esperto lutador que se vinga da morte da mãe passando a perna nos "empresários" do mundo do boxe: deixando de lado qualquer traço de vaidade (apesar do corpo sarado), ele mostra mais uma vez que, por debaixo do galã cobiçado existe um ator disposto a arriscar-se por um bom papel. Suas cenas são, invariavelmente, as mais divertidas do filme, diluindo as cores um tanto quanto machistas e misóginas do roteiro (as mulheres, quando aparecem, não são exatamente em papéis de respeito, servindo apenas como apoio quase figurativo). Esperto e engraçado, "Snatch" é um belo segundo filme, mas que acabou esgotando o estilo de Ritchie, que nunca mais acertou - exceto em projetos de encomenda, como a versão de "Sherlock Holmes" estrelada por Robert Downey Jr. em 2009 e sua continuação. Mesmo assim, fica claro em seus dois primeiros trabalhos, sua energia, criatividade e segurança em contar uma história, por mais complexa que ela seja.
À primeira vista, "Snatch - porcos e diamantes", segundo filme do cineasta inglês Guy Ritchie, parece uma espécie de continuação de seu primeiro trabalho, o incensado "Jogos, trapaças e dois canos fumegantes": gângsteres trapalhões, edição acelerada, um roteiro recheado de diálogos sarcásticos e politicamente incorretos e uma variedade insana de subtramas que se atropelam quase ao ponto da incompreensibilidade. Mas não é apenas a inclusão de nomes consagrados internacionalmente como Brad Pitt e Benicio Del Toro no elenco - ao lado dos colaboradores habituais do diretor - que faz dele mais do que isso. Mais experiente e confiante do que em sua estreia, Ritchie manteve todas as qualidades que fizeram dele um dos cineastas mais festejados de sua época e expandiu-as em uma comédia policial quase histérica que mistura humor e violência na medida exata.
Difícil de resumir - assim como acontecia com "Jogos, trapaças" - a trama de "Snatch" é uma miscelânea de histórias paralelas que convergem para um único (a absurdamente climático) desfecho. Jason Statham - um dos atores preferidos de Ritchie, antes de tornar-se astro do cinema de ação - interpreta Turkish, um gângster barato que, ao lado do eterno comparsa Tommy, se envolve no mundo das lutas de boxe comandadas pelo perigoso Brick Top (Alan Ford), que não hesita em comprar resultados para enriquecer ilicitamente. Tentando convencer o cigano Mickey O'Neill (Brad Pitt) a juntar-se a eles em seus esquemas fraudulentos, Turkish acaba no caminho de um grupo de ladrões de diamantes, comandado pelo misterioso Franky "Quatro dedos" (Benicio Del Toro), que, de posse de uma pedra gigantesca de 84 quilates, tenta vendê-la ao ambicioso Primo Avi (Dennis Farina) - até que ela é roubada por um bando de larápios pés-de-chinelo a mando do mafioso russo Boris "The Blade" (Rade Serbedzija). Aos poucos, todos cruzarão uns com os outros, com consequências inesperadas e surreais.
Guy Ritchie - dono de um senso de humor particular e por vezes nos limites do bom-gosto - usa e abusa de recursos estilísticos para sublinhar o tom quase de história em quadrinhos de seu filme, o que ajuda a amenizar a crueldade de algumas sequências (ainda que todas as mortes da trama aconteçam fora de cena). Editado com uma velocidade que deixa o espectador tonto de tanta informação, "Snatch" faz rir graças principalmente ao excesso de acontecimentos bizarros que toma conta da narrativa desde suas primeiras cenas - com direito a um assalto durante uma explicação sobre a tradução da Bíblia, bem ao estilo Quentin Tarantino - e às referências de cultura contemporânea - até mesmo a então esposa do diretor, Madonna, é citada indiretamente, com uma canção tocando no rádio de um carro - mas é inegável que boa parte da graça do filme reside na escalação certeira de Brad Pitt como o cigano boxeador de dicção ininteligível Mickey One Punch.
Dotado de um timing cômico impecável, Pitt - que telefonou para Ritchie se oferecendo para trabalhar com ele depois de uma sessão de "Jogos, trapaças" - rouba cada cena em que aparece como o truculento e esperto lutador que se vinga da morte da mãe passando a perna nos "empresários" do mundo do boxe: deixando de lado qualquer traço de vaidade (apesar do corpo sarado), ele mostra mais uma vez que, por debaixo do galã cobiçado existe um ator disposto a arriscar-se por um bom papel. Suas cenas são, invariavelmente, as mais divertidas do filme, diluindo as cores um tanto quanto machistas e misóginas do roteiro (as mulheres, quando aparecem, não são exatamente em papéis de respeito, servindo apenas como apoio quase figurativo). Esperto e engraçado, "Snatch" é um belo segundo filme, mas que acabou esgotando o estilo de Ritchie, que nunca mais acertou - exceto em projetos de encomenda, como a versão de "Sherlock Holmes" estrelada por Robert Downey Jr. em 2009 e sua continuação. Mesmo assim, fica claro em seus dois primeiros trabalhos, sua energia, criatividade e segurança em contar uma história, por mais complexa que ela seja.
quinta-feira
SHAFT
SHAFT
(Shaft, 2000, Paramount Pictures, 99min) Direção: John Singleton.
Roteiro: Richard Price, John Singleton, Shane Salerno, estória de John
Singleton, Shane Salerno, romance de Ernest Tidyman. Fotografia: Donald
E. Thorin. Montagem: John Bloom, Antonia Van Drimmelen. Música: David
Arnold. Figurino: Ruth Carter. Direção de arte/cenários: Patrizia Von
Brandenstein/George DeTitta Jr.. Produção executiva: Paul Hall, Steve
Nicolaides, Adam Schroeder. Produção: Mark Roybal, Scott Rudin, John
Singleton. Elenco: Samuel L. Jackson, Vanessa Williams, Christian Bale,
Jeffrey Wright, Toni Colette, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Richard
Roundtree, Philip Bosco. Estreia: 16/6/00
Em 1971, um filme chamado "Shaft" tornou-se o símbolo de um dos subgêneros mais populares do cinema policial norte-americano, a blackexploititon - filmes com atores negros, com temática relativa à comunidade negra e recheados de uma quantidade de sexo e violência quase impensáveis às produções comerciais dos grandes estúdios de Hollywood. Tendo como protagonista um detetive da polícia de Nova York mulherengo, malandro e pouco dado a melindres politicamente corretos interpretado por Richard Roundtree, "Shaft" fez sucesso de bilheteria, rendeu continuações, ganhou um Oscar (melhor canção) e influenciou cineastas do porte de Quentin Tarantino e John Singleton. Quase três décadas depois, como recompensa à sua importância para o gênero em particular e para o cinema em geral, o detetive voltou às telas, sob a direção de Singleton (primeiro afro-americano a concorrer ao Oscar de diretor, por "Os donos da rua", de 1991) e envernizado por um orçamento generoso da Paramount Pictures. Com algumas alterações que o descaracterizam como remake - o protagonista é sobrinho do personagem original, por exemplo - o "Shaft" do final do século é um policial energético, realista e violento que se apropria de todas as características do gênero e as regurgita de forma moderna e empolgante - principalmente por contar com o excepcional Samuel L. Jackson no papel central.
Jackson, um dos maiores atores negros de Hollywood, está à vontade na pele de John Shaft, o policial incorruptível e sedutor que desperta tanto admiração quanto inveja em seus colegas do departamento nova-iorquino, acostumados com casos de corrupção, racismo e impunidade. Todos esses elementos surgem de uma única vez quando Walter Wade Jr. (Christian Bale), filho de um dos mais importantes empresários da cidade, é acusado de matar um jovem negro diante de um restaurante. Liberado depois de pagar fiança, o rapaz foge antes do julgamento, para desespero da família da vitima. Dois anos depois, ao retornar de seu autoexílio, Wade é novamente preso e, para evitar uma condenação, resolve eliminar a única testemunha de seu crime, a garçonete Diane Palmieri (Toni Colette): paga para desaparecer, ela está sendo procurada incansavelmente por Shaft, e não sabe que está na mira também do perigoso traficante Peoples Hernandez (Jeffrey Wright), contratado pelo jovem milionário para matá-la.
Levando-se em consideração a quantidade de problemas em seus bastidores, é um milagre que "Shaft" tenha chegado às telas com tamanha consistência e qualidade. Tudo começou quando a Paramount praticamente exigiu a escalação de Samuel L. Jackson no papel central, contra o desejo original do diretor John Singleton de ter no elenco Don Cheadle e Wesley Snipes (uma escalação, aliás, extremamente acertada, uma vez que Jackson encaixou-se à perfeição no estilo do protagonista). Depois, desavenças constantes entre protagonista e diretor contra o roteiro, considerado sexista e preconceituoso em excesso - e que acabou tendo várias cenas cortadas e/ou modificadas de acordo com as orientações. Para finalizar, exibições-teste mostraram que o público se interessava mais pela história do traficante vivido por Jeffrey Wright do que pela trama do milionário racista interpretado por Christian Bale (que quase recusou o papel por ter acabado de sair dos sets de "Psicopata americano"), o que acabou diminuindo a participação do futuro Batman em cena. Tal acúmulo de situações adversas, somadas à bilheteria decepcionante, não permitiu que as aventuras de Shaft se estendessem nas continuações planejadas, mas é impressionante como, mesmo assim, é um raro prazer acompanhar o tom de malandragem das ruas impresso a cada fotograma.
Ao som da trilha sonora impecável - que usa a canção-título do filme original - e nas mãos de um elenco que dá veracidade e energia a uma trama que não poupa o espectador de sequências dirigidas com garra e realismo, "Shaft" é um filme que tem o soul nas veias e no DNA. Um policial que honra as bases do gênero e do cinema negro americano.
Em 1971, um filme chamado "Shaft" tornou-se o símbolo de um dos subgêneros mais populares do cinema policial norte-americano, a blackexploititon - filmes com atores negros, com temática relativa à comunidade negra e recheados de uma quantidade de sexo e violência quase impensáveis às produções comerciais dos grandes estúdios de Hollywood. Tendo como protagonista um detetive da polícia de Nova York mulherengo, malandro e pouco dado a melindres politicamente corretos interpretado por Richard Roundtree, "Shaft" fez sucesso de bilheteria, rendeu continuações, ganhou um Oscar (melhor canção) e influenciou cineastas do porte de Quentin Tarantino e John Singleton. Quase três décadas depois, como recompensa à sua importância para o gênero em particular e para o cinema em geral, o detetive voltou às telas, sob a direção de Singleton (primeiro afro-americano a concorrer ao Oscar de diretor, por "Os donos da rua", de 1991) e envernizado por um orçamento generoso da Paramount Pictures. Com algumas alterações que o descaracterizam como remake - o protagonista é sobrinho do personagem original, por exemplo - o "Shaft" do final do século é um policial energético, realista e violento que se apropria de todas as características do gênero e as regurgita de forma moderna e empolgante - principalmente por contar com o excepcional Samuel L. Jackson no papel central.
Jackson, um dos maiores atores negros de Hollywood, está à vontade na pele de John Shaft, o policial incorruptível e sedutor que desperta tanto admiração quanto inveja em seus colegas do departamento nova-iorquino, acostumados com casos de corrupção, racismo e impunidade. Todos esses elementos surgem de uma única vez quando Walter Wade Jr. (Christian Bale), filho de um dos mais importantes empresários da cidade, é acusado de matar um jovem negro diante de um restaurante. Liberado depois de pagar fiança, o rapaz foge antes do julgamento, para desespero da família da vitima. Dois anos depois, ao retornar de seu autoexílio, Wade é novamente preso e, para evitar uma condenação, resolve eliminar a única testemunha de seu crime, a garçonete Diane Palmieri (Toni Colette): paga para desaparecer, ela está sendo procurada incansavelmente por Shaft, e não sabe que está na mira também do perigoso traficante Peoples Hernandez (Jeffrey Wright), contratado pelo jovem milionário para matá-la.
Levando-se em consideração a quantidade de problemas em seus bastidores, é um milagre que "Shaft" tenha chegado às telas com tamanha consistência e qualidade. Tudo começou quando a Paramount praticamente exigiu a escalação de Samuel L. Jackson no papel central, contra o desejo original do diretor John Singleton de ter no elenco Don Cheadle e Wesley Snipes (uma escalação, aliás, extremamente acertada, uma vez que Jackson encaixou-se à perfeição no estilo do protagonista). Depois, desavenças constantes entre protagonista e diretor contra o roteiro, considerado sexista e preconceituoso em excesso - e que acabou tendo várias cenas cortadas e/ou modificadas de acordo com as orientações. Para finalizar, exibições-teste mostraram que o público se interessava mais pela história do traficante vivido por Jeffrey Wright do que pela trama do milionário racista interpretado por Christian Bale (que quase recusou o papel por ter acabado de sair dos sets de "Psicopata americano"), o que acabou diminuindo a participação do futuro Batman em cena. Tal acúmulo de situações adversas, somadas à bilheteria decepcionante, não permitiu que as aventuras de Shaft se estendessem nas continuações planejadas, mas é impressionante como, mesmo assim, é um raro prazer acompanhar o tom de malandragem das ruas impresso a cada fotograma.
Ao som da trilha sonora impecável - que usa a canção-título do filme original - e nas mãos de um elenco que dá veracidade e energia a uma trama que não poupa o espectador de sequências dirigidas com garra e realismo, "Shaft" é um filme que tem o soul nas veias e no DNA. Um policial que honra as bases do gênero e do cinema negro americano.
terça-feira
A CELA
A
CELA (The cell, 2000, New Line Cinema, 107min) Direção: Tarsem Singh.
Roteiro: Mark Protosevich. Fotografia: Paul Laufer. Montagem: Robert
Duffy, Paul Rubell. Música: Howard Shore. Figurino: Eiko Ishioka, April
Napier. Direção de arte/cenários: Tom Foden/Tessa Posnansky. Produção
executiva: Donna Langley, Carolyn Manetti. Produção: Julio Caro, Eric
McLeod. Elenco: Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Dylan
Baker, Marianne Jean-Baptiste, Gerry Becker, Patrick Bauchau, Musetta
Vander. Estreia: 17/8/00
Indicado ao Oscar de Maquiagem
Como seria a visão da mente de um psicopata através dos olhos de um diretor de videoclipes que tem como seu trabalho mais conhecido o bizarro e genial "Losing my religion", da banda R.E.M.? A resposta é o filme "A cela", ficção de suspense estrelada por Jennifer Lopez, que a despeito de por vezes descuidar-se do roteiro para concentrar-se em seu visual deslumbrante, é um exemplar dos mais interessantes do gênero a surgir no normalmente engessado mercado hollywoodiano. Angustiante, tenso e fascinante, o filme do indiano Tarsem Singh é uma viagem sensorial que explora a beleza de Lopez em contraste com os cenários surreais e o figurino criativo da premiada Eiko Ishioka (de "Drácula de Bram Stoker"), que refletem o tortuoso raciocínio de uma personalidade doentia. Indicado ao Oscar de maquiagem - merecia também nas categorias de direção de arte e figurino - o filme também é uma mostra da coragem de Lopez em investir em produções que não a explorassem unicamente como símbolo sexual.
Não exatamente uma Meryl Streep, Jennifer Lopez é uma atriz decente e esforçada - além de saber escolher com quem trabalha, haja visto que em seus anos iniciais em Hollywood ela foi dirigida por nomes consagrados como Francis Ford Coppola ("Jack"), Steven Soderbergh ("Irresisível paixão") e Oliver Stone ("Reviravolta"). Revelada pela indicação ao Golden Globe por seu desempenho em "Selena" (a história real da cantora de origem latina que foi assassinada pela presidente do seu fã-clube quando estava começando a fazer sucesso), JLo, também uma cantora pop bem-sucedida, nem precisa se esforçar muito no papel principal de "A cela": como a psicoterapeuta Catherine Deane, adepta de um novo tipo de tratamento que consiste em adentrar a mente dos pacientes para tentar livrá-los de seus traumas, ela acaba se tornando coadjuvante de um filme cujo visual acachapante é a maior virtude. Ainda assim, seu carisma e beleza tornam impossível que ela passe despercebida em meio às acrobacias visuais promovidas pelo diretor.
A psicoterapeuta interpretada por Lopez já começa o filme sofrendo um baque na carreira, quando os pais de um menino em coma de que ela vem cuidando há algum tempo resolvem tentar um tratamento mais ortodoxo. Não é pra menos: com a assistência dos doutores Henry West (Dylan Baker) e Miriam Kent (Marianne Jean-Baptiste), ela vem desenvolvendo uma terapia bastante controversa, onde penetra no subconsciente dos pacientes através de um sistema computadorizado que dá acesso aos mais obscuros cantos da mente. Frustrada com a interrupção do tratamento do garoto, ela é procurada por um grupo de agentes do FBI que lhe pedem ajuda em um caso atípico e assustador: responsável pela morte de várias mulheres, o serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) está nas mãos da polícia, mas, por um golpe do destino, é incapaz de apontar a localização de sua última vítima, já que entrou em um coma irreversível no momento de sua captura. Ainda viva segundo os cálculos da polícia, Julia Dickson (Tara Subkof) ainda pode sobreviver, mas para isso é preciso que seu paradeiro seja descoberto o quanto antes. Sendo assim, Catherine aceita o desafio de entrar no mundo do psicopata Stargher - e o que encontra lá é mais do que sinistro: é um pesadelo em tempo integral.
Prejudicado pela presença sempre anódina e aparvalhada de Vince Vaughn - na pele do detetive Peter Novak - "A cela" brilha sempre que apresenta ao espectador a visão toda particular de Tarsem Singh do apavorante mundo de seu psicopata. Em cores fortes e vibrantes que o aproximam perigosamente do kitsch mas ao mesmo tempo seduzem o espectador de forma quase hipnótica, os cenários criados por Tom Folden e Tessa Posnansky são dos mais extraordinários de seu tempo, mesclando uma atmosfera de sonho intenso com um clima claustrofóbico de deixar qualquer um desconfortável na poltrona. Uma pena, porém, que o roteiro não siga o mesmo tom criativo, apelando para todos os clichês psicanalíticos possíveis e imagináveis para explicar o comportamento violento do vilão - aliás, interpretado com gosto pelo excêntrico Vincent D'Onofrio. Esse senão é o que fragiliza o resultado final, impedindo que o primeiro longa-metragem de Tarsem se torne a pequena obra-prima que poderia ser. Ainda assim, é um filme que merece ser conhecido e aplaudido por suas inúmeras qualidades.
Indicado ao Oscar de Maquiagem
Como seria a visão da mente de um psicopata através dos olhos de um diretor de videoclipes que tem como seu trabalho mais conhecido o bizarro e genial "Losing my religion", da banda R.E.M.? A resposta é o filme "A cela", ficção de suspense estrelada por Jennifer Lopez, que a despeito de por vezes descuidar-se do roteiro para concentrar-se em seu visual deslumbrante, é um exemplar dos mais interessantes do gênero a surgir no normalmente engessado mercado hollywoodiano. Angustiante, tenso e fascinante, o filme do indiano Tarsem Singh é uma viagem sensorial que explora a beleza de Lopez em contraste com os cenários surreais e o figurino criativo da premiada Eiko Ishioka (de "Drácula de Bram Stoker"), que refletem o tortuoso raciocínio de uma personalidade doentia. Indicado ao Oscar de maquiagem - merecia também nas categorias de direção de arte e figurino - o filme também é uma mostra da coragem de Lopez em investir em produções que não a explorassem unicamente como símbolo sexual.
Não exatamente uma Meryl Streep, Jennifer Lopez é uma atriz decente e esforçada - além de saber escolher com quem trabalha, haja visto que em seus anos iniciais em Hollywood ela foi dirigida por nomes consagrados como Francis Ford Coppola ("Jack"), Steven Soderbergh ("Irresisível paixão") e Oliver Stone ("Reviravolta"). Revelada pela indicação ao Golden Globe por seu desempenho em "Selena" (a história real da cantora de origem latina que foi assassinada pela presidente do seu fã-clube quando estava começando a fazer sucesso), JLo, também uma cantora pop bem-sucedida, nem precisa se esforçar muito no papel principal de "A cela": como a psicoterapeuta Catherine Deane, adepta de um novo tipo de tratamento que consiste em adentrar a mente dos pacientes para tentar livrá-los de seus traumas, ela acaba se tornando coadjuvante de um filme cujo visual acachapante é a maior virtude. Ainda assim, seu carisma e beleza tornam impossível que ela passe despercebida em meio às acrobacias visuais promovidas pelo diretor.
A psicoterapeuta interpretada por Lopez já começa o filme sofrendo um baque na carreira, quando os pais de um menino em coma de que ela vem cuidando há algum tempo resolvem tentar um tratamento mais ortodoxo. Não é pra menos: com a assistência dos doutores Henry West (Dylan Baker) e Miriam Kent (Marianne Jean-Baptiste), ela vem desenvolvendo uma terapia bastante controversa, onde penetra no subconsciente dos pacientes através de um sistema computadorizado que dá acesso aos mais obscuros cantos da mente. Frustrada com a interrupção do tratamento do garoto, ela é procurada por um grupo de agentes do FBI que lhe pedem ajuda em um caso atípico e assustador: responsável pela morte de várias mulheres, o serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) está nas mãos da polícia, mas, por um golpe do destino, é incapaz de apontar a localização de sua última vítima, já que entrou em um coma irreversível no momento de sua captura. Ainda viva segundo os cálculos da polícia, Julia Dickson (Tara Subkof) ainda pode sobreviver, mas para isso é preciso que seu paradeiro seja descoberto o quanto antes. Sendo assim, Catherine aceita o desafio de entrar no mundo do psicopata Stargher - e o que encontra lá é mais do que sinistro: é um pesadelo em tempo integral.
Prejudicado pela presença sempre anódina e aparvalhada de Vince Vaughn - na pele do detetive Peter Novak - "A cela" brilha sempre que apresenta ao espectador a visão toda particular de Tarsem Singh do apavorante mundo de seu psicopata. Em cores fortes e vibrantes que o aproximam perigosamente do kitsch mas ao mesmo tempo seduzem o espectador de forma quase hipnótica, os cenários criados por Tom Folden e Tessa Posnansky são dos mais extraordinários de seu tempo, mesclando uma atmosfera de sonho intenso com um clima claustrofóbico de deixar qualquer um desconfortável na poltrona. Uma pena, porém, que o roteiro não siga o mesmo tom criativo, apelando para todos os clichês psicanalíticos possíveis e imagináveis para explicar o comportamento violento do vilão - aliás, interpretado com gosto pelo excêntrico Vincent D'Onofrio. Esse senão é o que fragiliza o resultado final, impedindo que o primeiro longa-metragem de Tarsem se torne a pequena obra-prima que poderia ser. Ainda assim, é um filme que merece ser conhecido e aplaudido por suas inúmeras qualidades.
segunda-feira
O HOMEM SEM SOMBRA
O
HOMEM SEM SOMBRA (Hollow man, 2000, Columbia Pictures, 112min )
Direção: Paul Verhoeven. Roteiro: Andrew W. Marlowe, estória de Gary
Scott Thompson, Andrew W. Marlowe. Fotografia: Jost Vacano. Montagem:
Mark Goldblatt. Música: Jerry Goldsmith. Figurino: Ellen Mirojnick.
Direção de arte/cenários: Allan Cameron/John M. Dwyer. Produção
executiva: Marion Rosenberg. Produção: Alan Marshall, Douglas Wick.
Elenco: Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg
Gunberg, Joey Slotnick, Mary Randle, William Devane. Estreia: 02/8/00
Indicado ao Oscar de Efeitos Visuais
A fascinação do homem - e do cinema - por histórias de cientistas malucos e as consequências desastrosas de suas ambições encontrou na revolução dos efeitos visuais criados a partir de computação gráfica uma aliada das mais generosas. Graças a tais efeitos milagrosos, histórias já contadas diversas vezes ganharam um molho especial, oferecendo a cineastas a chance de chocar a plateia com uma profusão de sangue, explosões e vísceras antes apenas imaginada. Quem muito se beneficiou com tal elevação no nível dos efeitos especiais foi o cineasta holandês Paul Verhoeven, tornado um diretor respeitado em Hollywood graças a "Robocop" (87) e "O vingador do futuro" (90), tramas de ficção científica largamente amparadas na tecnologia - não por acaso, ambos os filmes mereceram refilmagens recentes, onde puderam explorar ainda mais sua tendência à modernidade computadorizada. Saindo de dois fracassos monumentais - o patético e massacrado "Showgirls" e
"Tropas estelares", uma divertida brincadeira com os clichês do gênero que custou uma fortuna e não rendeu quase nada no mercado americano- o diretor se provou a escolha mais acertada para conduzir uma versão aditivada da velha história do cientista que se torna invisível para provar suas teorias: "O homem sem sombra", produzido pela Columbia Pictures a um custo estimado de 95 milhões de dólares, chegou aos cinemas americanos repleto de sangue, violência e sexo - ingredientes essenciais à sua filmografia anterior.
Apesar da trama não acrescentar muito mais à velha história do homem invisível - além dos elementos já citados - "O homem sem sombra" é um entretenimento de primeira qualidade, utilizando a seu favor todas as vantagens de um orçamento milionário e das possibilidades dos efeitos digitais que, apesar dos nomes famosos no elenco, são a verdadeira estrela da festa a ponto de terem sido indicados ao Oscar da categoria (perderam para "Gladiador", uma vitória injusta mas compreensível haja visto o sucesso de bilheteria do filme de Ridley Scott). Sutis em determinados momentos e explicitamente brilhantes em outros, os efeitos são o ápice do filme, dando base a um roteiro que não tem medo de mostrar frequentemente sua alma trash e adolescente. Pouco dado a sutilezas visuais, Verhoeven deita e rola, mostrando sem pudor algum transformações físicas assustadoras e dando a Kevin Bacon a chance de criar um dos vilões mais sensacionais do gênero, o brilhante e desequilibrado Sebastian Caine.
Lìder de um grupo de cientistas que, com o apoio do Pentágono, tenta descobrir a fórmula da invisibilidade, Caine resolve testar em si mesmo o passo final da experiência: um líquido que reverte o processo. As coisas não saem exatamente como o esperado e ele acaba permanecendo invisível por mais tempo do que deveria. Enquanto fica escondido no laboratório, à espera de uma solução para seu problema, ele acaba descobrindo as vantagens de sua situação, o que inclui abusar de sua colega Sarah (Kim Dickens) e estuprar uma vizinha por quem sente atração há tempos. Conforme o tempo vai passando e as coisas continuam na mesma, Caine passa a demonstrar um desequilíbrio cada vez maior, que explode de vez quando ele descobre que sua ex-namorada, Linda McKay (Elisabeth Shue, primeiro nome dos créditos, consequência de sua indicação ao Oscar por "Despedida em Las Vegas") está apaixonada por outro cientista do grupo, Matthew Kesington (Josh Brolin): violento e imprevisível, ele passa a perseguir os amantes.
Mesmo que apele para uma sucessão de clichês em seu terço final - quando Caine se transforma em uma espécie de Jason, assassino e incapturável - "O homem sem sombra" é uma das melhores ficções científicas dos anos 90, com sua mistura exata entre uma boa história, paranoia, bons atores e efeitos visuais de primeira linha. Construído com precisão cirúrgica com o objetivo de ganhar o espectador com violência e ação, o filme não chegou a ser um enorme êxito comercial, mas oferece à plateia muito mais do que a média do gênero. Verhoeven sabe o que faz.
Indicado ao Oscar de Efeitos Visuais
A fascinação do homem - e do cinema - por histórias de cientistas malucos e as consequências desastrosas de suas ambições encontrou na revolução dos efeitos visuais criados a partir de computação gráfica uma aliada das mais generosas. Graças a tais efeitos milagrosos, histórias já contadas diversas vezes ganharam um molho especial, oferecendo a cineastas a chance de chocar a plateia com uma profusão de sangue, explosões e vísceras antes apenas imaginada. Quem muito se beneficiou com tal elevação no nível dos efeitos especiais foi o cineasta holandês Paul Verhoeven, tornado um diretor respeitado em Hollywood graças a "Robocop" (87) e "O vingador do futuro" (90), tramas de ficção científica largamente amparadas na tecnologia - não por acaso, ambos os filmes mereceram refilmagens recentes, onde puderam explorar ainda mais sua tendência à modernidade computadorizada. Saindo de dois fracassos monumentais - o patético e massacrado "Showgirls" e
"Tropas estelares", uma divertida brincadeira com os clichês do gênero que custou uma fortuna e não rendeu quase nada no mercado americano- o diretor se provou a escolha mais acertada para conduzir uma versão aditivada da velha história do cientista que se torna invisível para provar suas teorias: "O homem sem sombra", produzido pela Columbia Pictures a um custo estimado de 95 milhões de dólares, chegou aos cinemas americanos repleto de sangue, violência e sexo - ingredientes essenciais à sua filmografia anterior.
Apesar da trama não acrescentar muito mais à velha história do homem invisível - além dos elementos já citados - "O homem sem sombra" é um entretenimento de primeira qualidade, utilizando a seu favor todas as vantagens de um orçamento milionário e das possibilidades dos efeitos digitais que, apesar dos nomes famosos no elenco, são a verdadeira estrela da festa a ponto de terem sido indicados ao Oscar da categoria (perderam para "Gladiador", uma vitória injusta mas compreensível haja visto o sucesso de bilheteria do filme de Ridley Scott). Sutis em determinados momentos e explicitamente brilhantes em outros, os efeitos são o ápice do filme, dando base a um roteiro que não tem medo de mostrar frequentemente sua alma trash e adolescente. Pouco dado a sutilezas visuais, Verhoeven deita e rola, mostrando sem pudor algum transformações físicas assustadoras e dando a Kevin Bacon a chance de criar um dos vilões mais sensacionais do gênero, o brilhante e desequilibrado Sebastian Caine.
Lìder de um grupo de cientistas que, com o apoio do Pentágono, tenta descobrir a fórmula da invisibilidade, Caine resolve testar em si mesmo o passo final da experiência: um líquido que reverte o processo. As coisas não saem exatamente como o esperado e ele acaba permanecendo invisível por mais tempo do que deveria. Enquanto fica escondido no laboratório, à espera de uma solução para seu problema, ele acaba descobrindo as vantagens de sua situação, o que inclui abusar de sua colega Sarah (Kim Dickens) e estuprar uma vizinha por quem sente atração há tempos. Conforme o tempo vai passando e as coisas continuam na mesma, Caine passa a demonstrar um desequilíbrio cada vez maior, que explode de vez quando ele descobre que sua ex-namorada, Linda McKay (Elisabeth Shue, primeiro nome dos créditos, consequência de sua indicação ao Oscar por "Despedida em Las Vegas") está apaixonada por outro cientista do grupo, Matthew Kesington (Josh Brolin): violento e imprevisível, ele passa a perseguir os amantes.
Mesmo que apele para uma sucessão de clichês em seu terço final - quando Caine se transforma em uma espécie de Jason, assassino e incapturável - "O homem sem sombra" é uma das melhores ficções científicas dos anos 90, com sua mistura exata entre uma boa história, paranoia, bons atores e efeitos visuais de primeira linha. Construído com precisão cirúrgica com o objetivo de ganhar o espectador com violência e ação, o filme não chegou a ser um enorme êxito comercial, mas oferece à plateia muito mais do que a média do gênero. Verhoeven sabe o que faz.
sábado
A SOMBRA DO VAMPIRO
A
SOMBRA DO VAMPIRO (Shadow of the vampire, 2000, Saturn Films/BBC Films,
Long Shot Films, 92min) Direção: E. Elias Merhige. Roteiro: Steven
Katz. Fotografia: Lou Bogue. Montagem: Chris Wyatt. Música: Dan Jones.
Figurino: Caroline De Vivaise. Direção de arte/cenários: Assheton
Gordon. Produção executiva: Paul Brooks, Alan Howden. Produção: Nicolas
Cage, Jeff Levine. Elenco: John Malkovich, Willem Dafoe, Catherine
McCormack, Udo Kier, Cary Elwes. Estreia: 13/5/00 (Festival de Cannes)
2 indicações ao Oscar: Ator Coadjuvante (Willem Dafoe), Maquiagem
A imagem aterradora do ator Max Schreck como Nosferatu no clássico expressionista de F.W. Murnau lançado em 1922 é conhecida até mesmo por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de assistir ao filme, um marco na história do cinema mundial e referência obrigatória até os dias de hoje. O personagem, inspirado no Drácula criado por Bram Stoker - mas que teve que ter seu nome alterado devido à proibição do autor em liberar os direitos de filmagem de seu livro - acabou tornando-se marca registrada de Shreck, um veterano ator dos palcos alemães que nunca mais conseguiu livrar-se do estigma de interpretar alguém tão marcante. Uma das lendas instauradas ao redor de seu nome - a de que ele seria um vampiro de verdade contratado para dar veracidade ao papel - é a base para o roteiro de uma curiosa reimaginação do mito, visualmente atraente e que quase deu a Willem Dafoe um Oscar de coadjuvante: "A sombra do vampiro". Mescla de comédia de humor negro, suspense e drama sobre os bastidores do cinema, o filme arrancou elogios desde sua estreia no Festival de Cannes de 2000, mas sofre de uma irregularidade que compromete seu resultado final.
A trama se passa na Berlim de 1921, quando o cineasta F.W. Murnau (John Malkovich, exagerando na composição mais uma vez) dá início às filmagens de seu "Nosferatu", adaptação não-oficial do romance escrito por Bram Stoker. Excêntrico por natureza, o cineasta surpreende ainda mais sua equipe quando diz a eles que o ator escolhido para o papel principal, Max Schreck (Willem Dafoe) - desconhecido de todos - tem um método muito especial para desenvolver o personagem, mantendo-se à distância do restante do elenco e dos demais funcionários (além de ficar permanentemente na pele do temível monstro). Não demora muito para que as atitudes de Shreck passem a incomodar, especialmente quando fatos estranhos começam a acontecer à sua volta, como a súbita doença do diretor de fotografia Wolfgang Muller (Ronan Vibert). O que ninguém sabe - com exceção de Murnau - é que o misterioso e calado ator é, na verdade, um vampiro verdadeiro, que aceitou o trabalho tendo como recompensa o sangue da atriz principal, Greta Schroder (Catherine McCormack). Resta ao diretor, então, manter em segredo sua negociação com o astro do filme e finalizar as filmagens.
O visual de "A sombra do vampiro" é interessantíssimo: a fotografia recria com perfeição o clima claustrofóbico do filme original de Murnau, enquanto elabora um atmosfera nova para retratar seus bastidores, oferecendo à plateia uma visão única do processo de criação de um dos maiores clássicos da sétima arte. A direção de arte caprichada mergulha o espectador na história, conduzindo-o por um labirinto feérico que remete aos belos enquadramentos do cineasta alemão e a maquiagem que transforma Willem Dafoe em Max Schreck beira a perfeição: não à toa, tanto ela quanto Dafoe foram indicados ao Oscar. Em uma caracterização inesquecível que caminha no fio da navalha do excesso, o ator - que foi escolhido para viver o Duende Verde no "Homem-aranha", de Sam Raimi graças à excelência de sua atuação - não hesita em abusar de todas as possibilidades que o papel oferece, esbarrando apenas na superficialidade do roteiro, que jamais tenta ultrapassar os limites da brincadeira e se satisfaz em apenas criar uma situação fascinante, sem explorá-la dramaticamente.
Essa falha de "A sombra do vampiro" em desenvolver a contento seus personagens acaba sendo seu calcanhar de Aquiles. Fosse um curta-metragem ou um videoclipe, o resultado seria uma pequena obra-prima, já que todos os elementos estão nos seus devidos lugares. Como filme, é difícil relevar o desinteresse que demonstra, por exemplo, pelo diretor vivido por John Malkovich, tornado um coadjuvante quase sem função na segunda metade da trama, quando as atividades de Shreck se tornam um problema tão grande que passam a ameaçar o término das filmagens - e acabam por encontrar um heroi na figura do fotógrafo substituto (vivido por Cary Elwes, que, coincidentemente ou não, também caçou um vampiro na versão de Francis Ford Coppola, "Drácula de Bram Stoker", de 1992). Interessante mas menos brilhante do que poderia ser, "A sombra do vampiro" é apenas um filme curioso, que ilustra uma das lendas mais fascinantes da história do cinema.
2 indicações ao Oscar: Ator Coadjuvante (Willem Dafoe), Maquiagem
A imagem aterradora do ator Max Schreck como Nosferatu no clássico expressionista de F.W. Murnau lançado em 1922 é conhecida até mesmo por aqueles que nunca tiveram a oportunidade de assistir ao filme, um marco na história do cinema mundial e referência obrigatória até os dias de hoje. O personagem, inspirado no Drácula criado por Bram Stoker - mas que teve que ter seu nome alterado devido à proibição do autor em liberar os direitos de filmagem de seu livro - acabou tornando-se marca registrada de Shreck, um veterano ator dos palcos alemães que nunca mais conseguiu livrar-se do estigma de interpretar alguém tão marcante. Uma das lendas instauradas ao redor de seu nome - a de que ele seria um vampiro de verdade contratado para dar veracidade ao papel - é a base para o roteiro de uma curiosa reimaginação do mito, visualmente atraente e que quase deu a Willem Dafoe um Oscar de coadjuvante: "A sombra do vampiro". Mescla de comédia de humor negro, suspense e drama sobre os bastidores do cinema, o filme arrancou elogios desde sua estreia no Festival de Cannes de 2000, mas sofre de uma irregularidade que compromete seu resultado final.
A trama se passa na Berlim de 1921, quando o cineasta F.W. Murnau (John Malkovich, exagerando na composição mais uma vez) dá início às filmagens de seu "Nosferatu", adaptação não-oficial do romance escrito por Bram Stoker. Excêntrico por natureza, o cineasta surpreende ainda mais sua equipe quando diz a eles que o ator escolhido para o papel principal, Max Schreck (Willem Dafoe) - desconhecido de todos - tem um método muito especial para desenvolver o personagem, mantendo-se à distância do restante do elenco e dos demais funcionários (além de ficar permanentemente na pele do temível monstro). Não demora muito para que as atitudes de Shreck passem a incomodar, especialmente quando fatos estranhos começam a acontecer à sua volta, como a súbita doença do diretor de fotografia Wolfgang Muller (Ronan Vibert). O que ninguém sabe - com exceção de Murnau - é que o misterioso e calado ator é, na verdade, um vampiro verdadeiro, que aceitou o trabalho tendo como recompensa o sangue da atriz principal, Greta Schroder (Catherine McCormack). Resta ao diretor, então, manter em segredo sua negociação com o astro do filme e finalizar as filmagens.
O visual de "A sombra do vampiro" é interessantíssimo: a fotografia recria com perfeição o clima claustrofóbico do filme original de Murnau, enquanto elabora um atmosfera nova para retratar seus bastidores, oferecendo à plateia uma visão única do processo de criação de um dos maiores clássicos da sétima arte. A direção de arte caprichada mergulha o espectador na história, conduzindo-o por um labirinto feérico que remete aos belos enquadramentos do cineasta alemão e a maquiagem que transforma Willem Dafoe em Max Schreck beira a perfeição: não à toa, tanto ela quanto Dafoe foram indicados ao Oscar. Em uma caracterização inesquecível que caminha no fio da navalha do excesso, o ator - que foi escolhido para viver o Duende Verde no "Homem-aranha", de Sam Raimi graças à excelência de sua atuação - não hesita em abusar de todas as possibilidades que o papel oferece, esbarrando apenas na superficialidade do roteiro, que jamais tenta ultrapassar os limites da brincadeira e se satisfaz em apenas criar uma situação fascinante, sem explorá-la dramaticamente.
Essa falha de "A sombra do vampiro" em desenvolver a contento seus personagens acaba sendo seu calcanhar de Aquiles. Fosse um curta-metragem ou um videoclipe, o resultado seria uma pequena obra-prima, já que todos os elementos estão nos seus devidos lugares. Como filme, é difícil relevar o desinteresse que demonstra, por exemplo, pelo diretor vivido por John Malkovich, tornado um coadjuvante quase sem função na segunda metade da trama, quando as atividades de Shreck se tornam um problema tão grande que passam a ameaçar o término das filmagens - e acabam por encontrar um heroi na figura do fotógrafo substituto (vivido por Cary Elwes, que, coincidentemente ou não, também caçou um vampiro na versão de Francis Ford Coppola, "Drácula de Bram Stoker", de 1992). Interessante mas menos brilhante do que poderia ser, "A sombra do vampiro" é apenas um filme curioso, que ilustra uma das lendas mais fascinantes da história do cinema.
sexta-feira
O CLUBE DOS CORAÇÕES PARTIDOS
O
CLUBE DOS CORAÇÕES PARTIDOS (The broken hearts club: a romantic comedy,
2000, Banner Entertainment, 94min) Direção e roteiro: Greg Berlanti.
Fotografia: Paul Elliott. Montagem: Todd Busch. Música: Christophe Beck.
Figurino: Mas Kondo. Direção de arte/cenários: Charles Daboub Jr./Mark
Macauley. Produção: Mickey Liddell, Joseph Middleton. Elenco: Timothy
Olyphant, Dean Cain, Zach Braff, John Mahoney, Justin Theroux, Ben
Weber, Nia Long, Matt McGrath, Andrew Keegan, Jennifer Coolidge, Kerr
Smith, Michael Bergin. Estreia: 29/01/00 (Festival de Sundance)
Ao contrário dos anos 70 - que começava a vislumbrar no mundo gay uma temática a ser explorada no cinema - e dos anos 80 - onde a ameaça da AIDS surgia como mais um motivo para varrer para debaixo do tapete um assunto tão pouco comercial - os anos 90 encararam a homossexualidade como algo menos sombrio, aproveitando a onda liberal do final do século. Foi assim que produções que enfatizavam a paranoia, como "Parceiros da noite" - policial em que Al Pacino investigava um serial killer que matava gays - e o fantasma do HIV - como "Filadélfia", que deu o Oscar de melhor ator a Tom Hanks - começaram a ser, aos poucos, substituídas por outras menos pesadas, que lançavam um olhar mais ameno e até bem-humorado sobre a situação de homens e mulheres que convivem saudavelmente com sua sexualidade. Mesmo tendo sido quase ignorado em termos comerciais, um dos exemplos mais felizes dessa tendência foi "O clube dos corações partidos", cujo título original ostentava com orgulho a definição "uma comédia romântica" como forma de sublinhar seu tom suave. Equilibrando com presteza um humor ácido e uma branda melancolia, o diretor e roteirista Greg Berlandi - revelado na telessérie "Dawson's Creek" - fez de seu filme uma espécie de "O primeiro ano do resto de nossas vidas" (citado nominalmente em uma cena) gay.
Assim como no filme de Joel Schumacher - cujo elenco revelou nomes como Demi Moore, Emilio Estevez e Rob Lowe - os personagens de "O clube dos corações partidos" tem um ponto de encontro fixo: o restaurante do veterano Jack (John Mahoney), que vez ou outra entretém seus frequentadores fazendo um show como drag queen. É ele também quem insiste em manter viva a tradição de um time de baseball, apesar do pouco caso de seus jogadores - e melhores amigos. O principal deles é Dennis (Timothy Olyphant), um fotógrafo amador que, com a chegada dos 28 anos, sente-se solitário e incapaz de manter um relacionamento estável. Decidido a mudar de vida e procurar um grande amor, ele transita entre os problemas de seu complicado grupo de amigos: Patrick (Ben Weber) é o patinho feio da turma, e enfrenta o dilema de ajudar ou não sua irmã lésbica a ter um filho com a parceira; o racional Howie (Matt McGrath), que acabou um namoro recentemente, mas não consegue desvencilhar-se do ex, Marshall (Justin Theroux), a quem acusa de imaturidade; Benji (Zach Braff), que tem uma queda incurável por meninos bonitos e sem caráter; Taylor (Billy Porter), recentemente abandonado pelo namorado e tentando recuperar-se; e Cole (Dean Cain, famoso como o Clark Kent da série "As aventuras de Lois e Clark"), aspirante a ator que vive de sua aparência invejável.
Usando tais personagens como mola-mestra de seu roteiro, Berlandi muitas vezes não consegue escapar dos estereótipos comuns ao gênero, mas ao menos lhes banha com uma alta dose de generosidade. Mesmo quando as atitudes de suas criaturas não são as mais dignas, ele dá um jeito de perdoá-las, utilizando-se para isso de um bom-humor inteligente e um senso de humanismo que faz muita falta na maioria das produções semelhantes. Sem cair na tentação de beatificar ninguém, o cineasta (que só assumiu a cadeira de diretor depois de muita insistência dos produtores) mostra ao público personagens propensos a erros e acertos, capazes de ajudar uns aos outros enquanto caem nas armadilhas de seus próprios caminhos. Mesmo que soando superficial a maior parte do tempo - tantos personagens assim cairiam melhor em uma série de TV, como mais tarde provaria "Queer as folk" - o filme surpreende por sua honestidade, ainda que ela esteja diluída pelo filtro das produções comerciais: o sexo é quase casto, o amor vence tudo, a amizade é a cura para todos os problemas. É otimista, mas soa um tanto ingênuo.
Sobra o elenco, formado em sua maioria por atores jovens que experimentariam posteriormente o gostinho da fama. Timothy Olyphant e Zach Braff fariam sucesso na TV (o primeiro em "Everwood" e o segundo em "Scrubs"), Andrew Keegan (que vive um jovem em processo de autodescobrimento) entraria no elenco de "American pie" e Dean Cain ainda arrancaria suspiros como o bem-sucedido Superman da televisão, ao lado de Teri Hatcher. Com uma ótima química em cena, o grupo conquista a plateia sem fazer muito esforço, arrancando risadas e lágrimas na medida certa. Às vezes, "O clube dos corações partidos" parece muito um telefilme - talvez culpa das experiências anteriores do diretor - mas é simpático, divertido e foge dos dramalhões que normalmente acompanham filmes de temática homossexual. Isso já é mais do que suficiente para merecer uma espiada.
Ao contrário dos anos 70 - que começava a vislumbrar no mundo gay uma temática a ser explorada no cinema - e dos anos 80 - onde a ameaça da AIDS surgia como mais um motivo para varrer para debaixo do tapete um assunto tão pouco comercial - os anos 90 encararam a homossexualidade como algo menos sombrio, aproveitando a onda liberal do final do século. Foi assim que produções que enfatizavam a paranoia, como "Parceiros da noite" - policial em que Al Pacino investigava um serial killer que matava gays - e o fantasma do HIV - como "Filadélfia", que deu o Oscar de melhor ator a Tom Hanks - começaram a ser, aos poucos, substituídas por outras menos pesadas, que lançavam um olhar mais ameno e até bem-humorado sobre a situação de homens e mulheres que convivem saudavelmente com sua sexualidade. Mesmo tendo sido quase ignorado em termos comerciais, um dos exemplos mais felizes dessa tendência foi "O clube dos corações partidos", cujo título original ostentava com orgulho a definição "uma comédia romântica" como forma de sublinhar seu tom suave. Equilibrando com presteza um humor ácido e uma branda melancolia, o diretor e roteirista Greg Berlandi - revelado na telessérie "Dawson's Creek" - fez de seu filme uma espécie de "O primeiro ano do resto de nossas vidas" (citado nominalmente em uma cena) gay.
Assim como no filme de Joel Schumacher - cujo elenco revelou nomes como Demi Moore, Emilio Estevez e Rob Lowe - os personagens de "O clube dos corações partidos" tem um ponto de encontro fixo: o restaurante do veterano Jack (John Mahoney), que vez ou outra entretém seus frequentadores fazendo um show como drag queen. É ele também quem insiste em manter viva a tradição de um time de baseball, apesar do pouco caso de seus jogadores - e melhores amigos. O principal deles é Dennis (Timothy Olyphant), um fotógrafo amador que, com a chegada dos 28 anos, sente-se solitário e incapaz de manter um relacionamento estável. Decidido a mudar de vida e procurar um grande amor, ele transita entre os problemas de seu complicado grupo de amigos: Patrick (Ben Weber) é o patinho feio da turma, e enfrenta o dilema de ajudar ou não sua irmã lésbica a ter um filho com a parceira; o racional Howie (Matt McGrath), que acabou um namoro recentemente, mas não consegue desvencilhar-se do ex, Marshall (Justin Theroux), a quem acusa de imaturidade; Benji (Zach Braff), que tem uma queda incurável por meninos bonitos e sem caráter; Taylor (Billy Porter), recentemente abandonado pelo namorado e tentando recuperar-se; e Cole (Dean Cain, famoso como o Clark Kent da série "As aventuras de Lois e Clark"), aspirante a ator que vive de sua aparência invejável.
Usando tais personagens como mola-mestra de seu roteiro, Berlandi muitas vezes não consegue escapar dos estereótipos comuns ao gênero, mas ao menos lhes banha com uma alta dose de generosidade. Mesmo quando as atitudes de suas criaturas não são as mais dignas, ele dá um jeito de perdoá-las, utilizando-se para isso de um bom-humor inteligente e um senso de humanismo que faz muita falta na maioria das produções semelhantes. Sem cair na tentação de beatificar ninguém, o cineasta (que só assumiu a cadeira de diretor depois de muita insistência dos produtores) mostra ao público personagens propensos a erros e acertos, capazes de ajudar uns aos outros enquanto caem nas armadilhas de seus próprios caminhos. Mesmo que soando superficial a maior parte do tempo - tantos personagens assim cairiam melhor em uma série de TV, como mais tarde provaria "Queer as folk" - o filme surpreende por sua honestidade, ainda que ela esteja diluída pelo filtro das produções comerciais: o sexo é quase casto, o amor vence tudo, a amizade é a cura para todos os problemas. É otimista, mas soa um tanto ingênuo.
Sobra o elenco, formado em sua maioria por atores jovens que experimentariam posteriormente o gostinho da fama. Timothy Olyphant e Zach Braff fariam sucesso na TV (o primeiro em "Everwood" e o segundo em "Scrubs"), Andrew Keegan (que vive um jovem em processo de autodescobrimento) entraria no elenco de "American pie" e Dean Cain ainda arrancaria suspiros como o bem-sucedido Superman da televisão, ao lado de Teri Hatcher. Com uma ótima química em cena, o grupo conquista a plateia sem fazer muito esforço, arrancando risadas e lágrimas na medida certa. Às vezes, "O clube dos corações partidos" parece muito um telefilme - talvez culpa das experiências anteriores do diretor - mas é simpático, divertido e foge dos dramalhões que normalmente acompanham filmes de temática homossexual. Isso já é mais do que suficiente para merecer uma espiada.
quinta-feira
E AÍ, MEU IRMÃO, CADÊ VOCÊ?
E AÍ, MEU IRMÃO, CADÊ VOCÊ? (O brother where art thou?, 2000,
Touchstone Pictures/Universal Pictures, 106min) Direção: Joel Coen.
Roteiro: Joel Coen, Ethan Coen, livro "A odisséia", de Homero.
Fotografia: Roger Deakins. Montagem: Roderick Jaynes, Tricia Cooke.
Mùsica: T Bone Burnett. Figurino: Mary Zophres. Direção de
arte/cenários: Dennis Gassner/Nancy Haigh. Produção executiva: Tim Bevan
Eric Fellner. Produção: Ethan Coen. Elenco: George Clooney, John
Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter, Charles Durning,
Chris Thomas King. Estreia: 13/5/00 (Festival de Cannes)
2 indicações ao Oscar: Roteiro Adaptado, Fotografia
Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator Comédia/Musical (George Clooney)
Pergunta: que tipo de gente seria capaz de transmutar uma obra épica, respeitada e estudada como a "Odisseia", de Homero em uma comédia maluca, estrelada por três foragidos da polícia e ilustrada com o mais puro bluegrass (country de raiz)? Resposta: os irmãos Joel e Ethan Coen, que, desde sua estreia no cinema, com o noir "Gosto de sangue", de 1984, passaram a subverter os gêneros mais queridos de Hollywood com filmes de rara inteligência e humor negro. Consagrados pela Academia em 1997 pelo policial sangrento e cômico "Fargo" - vencedor dos Oscar de roteiro e atriz - os dois calaram a boca daqueles que pensavam que eles iriam moldar-se ao esquema do cinemão hollywoodiano: primeiro, lançaram a comédia "O grande Lebowski", estrelada por Jeff Bridges, que tinha como protagonista um usuário de maconha pra lá de sequelado. Depois, chamaram o galã George Clooney, o despiram de qualquer vaidade e lhe deram o papel mais bizarro de sua carreira em "E aí, meu irmão, cadê você?", uma adaptação nunca aquém de surreal da obra clássica de Homero. Resultado: as boas graças da crítica, um Golden Globe de melhor ator em comédia/musical e uma parceria que ainda hoje vem rendendo ótimos filmes.
Dotado de um até então desconhecido timing cômico, Clooney está à vontade como Ulysses Everett McGill, o líder de um trio de fugitivos de uma colônia penal agrícola no Mississipi dos anos 30. Com o objetivo de voltar para casa e para a esposa Penny (Holly Hunter) e recuperar o produto de um assalto a banco que o levou para a cadeia, ele e seus companheiros - Pete Hogwallop (John Turturro) e Delmar O'Donnell (Tim Blake Nelson) - iniciam uma longa jornada que os levará a cruzar o caminho com um série de personagens inacreditáveis. Desde Tommy Johnson (Chris Thomas King), um jovem músico negro que diz ter vendido a alma ao diabo para fazer sucesso profissionalmente até Pappy O'Daniel (Charles Durning), um candidato a governador pouco afeito à ética, todo tipo de gente e situações se interpõem entre ele e seu destino - até mesmo um grupo de integrantes da Ku Klux Kan e um trio de belas e sedutoras mulheres que não são exatamente o que parecem.
Brincando de substituir os elementos fantasiosos da obra de Homero por outros mais tradicionais - mas ainda assim surreais a ponto de não diluir o tom de humor de seu filme - o roteiro dos irmãos Coen acabou sendo indicado ao Oscar, assim como a fotografia amarelada de Roger Deakins, que reflete com exatidão o clima árido e seco do sul dos EUA, um cenário mais do que inspirado para as maluquices da dupla de cineastas, que transforma o pesadelo de Ulysses e seus companheiros em uma trajetória irresistível e surpreendente até mesmo para quem leu o material que lhe deu origem - grupo este que não inclui os diretores, que admitiram só conhecer a história graças ao inconsciente coletivo e a outras adaptações cinematográficas. O que no caso poderia ser um fator limitatório, porém, acabou sendo libertador: graças à falta de compromisso com a seriedade de Homero, os irmãos Coen parecem ter tirado o pé do freio no quesito humor, recheando seu filme com tiradas visuais das mais inspiradas de sua carreira e entregando ao público um trio de protagonistas deliciosamente abobalhados, capazes de arrancar risos até do mais sisudo espectador. Para quem tem alguma dúvida, basta esperar até o momento em que Ulysses assume os microfones em um evento popular e tenta reconquistar sua amada cantando com sua "banda". É cinema dos irmãos Coen em seu melhor, apresentando à plateia um George Clooney em dias de pura inspiração cômica.
Mas se Clooney está perfeito em sua versão de galã desajeitado, o mesmo pode ser dito do restante do elenco: John Turturro e Tim Blake Nelson estão sempre a ponto de roubar a cena com seus patéticos fugitivos e John Goodman tanto assusta quanto faz rir com seu vilão de tapa-olho, assim como Holly Hunter não precisa de muito tempo em cena para mostrar porque é uma das atrizes preferidas dos diretores. Parte de um conjunto vitorioso - que inclui com méritos a excepcional trilha sonora, que ganhou prêmios a rodo e vendeu inesperadamente - os atores dão a "E aí, meu irmão, cadê você?" (uma tradução um tanto estranha do título original, escrito em inglês arcaico) o molho especial que faz dele uma das comédias mais imaginativas e inteligentes surgidas no cinema americano tão desprovido de ousadia.
2 indicações ao Oscar: Roteiro Adaptado, Fotografia
Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator Comédia/Musical (George Clooney)
Pergunta: que tipo de gente seria capaz de transmutar uma obra épica, respeitada e estudada como a "Odisseia", de Homero em uma comédia maluca, estrelada por três foragidos da polícia e ilustrada com o mais puro bluegrass (country de raiz)? Resposta: os irmãos Joel e Ethan Coen, que, desde sua estreia no cinema, com o noir "Gosto de sangue", de 1984, passaram a subverter os gêneros mais queridos de Hollywood com filmes de rara inteligência e humor negro. Consagrados pela Academia em 1997 pelo policial sangrento e cômico "Fargo" - vencedor dos Oscar de roteiro e atriz - os dois calaram a boca daqueles que pensavam que eles iriam moldar-se ao esquema do cinemão hollywoodiano: primeiro, lançaram a comédia "O grande Lebowski", estrelada por Jeff Bridges, que tinha como protagonista um usuário de maconha pra lá de sequelado. Depois, chamaram o galã George Clooney, o despiram de qualquer vaidade e lhe deram o papel mais bizarro de sua carreira em "E aí, meu irmão, cadê você?", uma adaptação nunca aquém de surreal da obra clássica de Homero. Resultado: as boas graças da crítica, um Golden Globe de melhor ator em comédia/musical e uma parceria que ainda hoje vem rendendo ótimos filmes.
Dotado de um até então desconhecido timing cômico, Clooney está à vontade como Ulysses Everett McGill, o líder de um trio de fugitivos de uma colônia penal agrícola no Mississipi dos anos 30. Com o objetivo de voltar para casa e para a esposa Penny (Holly Hunter) e recuperar o produto de um assalto a banco que o levou para a cadeia, ele e seus companheiros - Pete Hogwallop (John Turturro) e Delmar O'Donnell (Tim Blake Nelson) - iniciam uma longa jornada que os levará a cruzar o caminho com um série de personagens inacreditáveis. Desde Tommy Johnson (Chris Thomas King), um jovem músico negro que diz ter vendido a alma ao diabo para fazer sucesso profissionalmente até Pappy O'Daniel (Charles Durning), um candidato a governador pouco afeito à ética, todo tipo de gente e situações se interpõem entre ele e seu destino - até mesmo um grupo de integrantes da Ku Klux Kan e um trio de belas e sedutoras mulheres que não são exatamente o que parecem.
Brincando de substituir os elementos fantasiosos da obra de Homero por outros mais tradicionais - mas ainda assim surreais a ponto de não diluir o tom de humor de seu filme - o roteiro dos irmãos Coen acabou sendo indicado ao Oscar, assim como a fotografia amarelada de Roger Deakins, que reflete com exatidão o clima árido e seco do sul dos EUA, um cenário mais do que inspirado para as maluquices da dupla de cineastas, que transforma o pesadelo de Ulysses e seus companheiros em uma trajetória irresistível e surpreendente até mesmo para quem leu o material que lhe deu origem - grupo este que não inclui os diretores, que admitiram só conhecer a história graças ao inconsciente coletivo e a outras adaptações cinematográficas. O que no caso poderia ser um fator limitatório, porém, acabou sendo libertador: graças à falta de compromisso com a seriedade de Homero, os irmãos Coen parecem ter tirado o pé do freio no quesito humor, recheando seu filme com tiradas visuais das mais inspiradas de sua carreira e entregando ao público um trio de protagonistas deliciosamente abobalhados, capazes de arrancar risos até do mais sisudo espectador. Para quem tem alguma dúvida, basta esperar até o momento em que Ulysses assume os microfones em um evento popular e tenta reconquistar sua amada cantando com sua "banda". É cinema dos irmãos Coen em seu melhor, apresentando à plateia um George Clooney em dias de pura inspiração cômica.
Mas se Clooney está perfeito em sua versão de galã desajeitado, o mesmo pode ser dito do restante do elenco: John Turturro e Tim Blake Nelson estão sempre a ponto de roubar a cena com seus patéticos fugitivos e John Goodman tanto assusta quanto faz rir com seu vilão de tapa-olho, assim como Holly Hunter não precisa de muito tempo em cena para mostrar porque é uma das atrizes preferidas dos diretores. Parte de um conjunto vitorioso - que inclui com méritos a excepcional trilha sonora, que ganhou prêmios a rodo e vendeu inesperadamente - os atores dão a "E aí, meu irmão, cadê você?" (uma tradução um tanto estranha do título original, escrito em inglês arcaico) o molho especial que faz dele uma das comédias mais imaginativas e inteligentes surgidas no cinema americano tão desprovido de ousadia.
quarta-feira
PSICOPATA AMERICANO
A publicação do romance "Psicopata americano", no início da década de 90, foi cercado de polêmicas, principalmente graças ao que foi tido por seus detratores como "barbárie misógina". Violentamente atacada pelas feministas e discutida amplamente nos meios de comunicação sem ao menos ter chegado às livrarias, a obra de Brett Easton Ellis - também autor de "Abaixo de zero" e "Regras da atração", ambos adaptados para o cinema - parecia fadada à controvérsia, o que ficou provado quase dez anos mais tarde quando Leonardo DiCaprio, fresquinho do sucesso de "Romeu + Julieta", anunciou que estrelaria sua versão para as telas. A gritaria em torno da possibilidade de um ator idolatrado pelas adolescentes protagonizar um filme tão "nefasto" acabou por mais uma vez jogar os holofotes sobre a história de Patrick Bateman, um dos anti-herois mais improváveis do final do século XX. Resultado? O que poderia ter sido apenas mais uma produção independente louvada em festivais e em seguida esquecida pelo grande público transformou-se em um inesperado cult movie - um dos maiores de sua época.
A polêmica que começou antes mesmo que o livro fosse publicado - e que continuou quando ele chegou às livrarias, resultando até mesmo em cadeia para uma de suas mais ferozes críticas, a ativista feminista Tara Baxter, denunciada por subversão da ordem em uma loja
 no interior dos EUA - começou a atingir níveis internacionais e que ultrapassavam os limites literários quando sua adaptação para as telas foi anunciada, sob a direção de Mary Harron, conhecida no mundo do cinema independente graças ao filme "Um tiro para Andy Wharol", de 1996. Preferindo um ator ao invés de um astro internacional, Harron considerou vários nomes para o papel principal - Billy Crudup, Jared Leto, Ben Chaplin, Robert Sean Leonard entre eles - até chegar a Christian Bale, ainda não consagrado como astro da série "Batman", de Christopher Nolan e mais conhecido como o garotinho inglês de "Império do sol", de Steven Spielberg. Os produtores ainda tentaram empurrar Edward Norton, mas a cineasta bateu pé em sua escolha, aceitando até mesmo a imposição de escalar nomes conhecidos para o elenco coadjuvante - Willem Dafoe e Reese Witherspoon foram os escolhidos para tal. Foi então que tudo mudou de rumo: Leonardo DiCaprio tornou-se um ator "quente" e foi convidado (contra a vontade de Harron) para protagonizar o filme. Indignada, a diretora pulou fora do projeto, deixando-o nas mãos de Oliver Stone, que mudou tudo, do roteiro ao elenco já escalado.
no interior dos EUA - começou a atingir níveis internacionais e que ultrapassavam os limites literários quando sua adaptação para as telas foi anunciada, sob a direção de Mary Harron, conhecida no mundo do cinema independente graças ao filme "Um tiro para Andy Wharol", de 1996. Preferindo um ator ao invés de um astro internacional, Harron considerou vários nomes para o papel principal - Billy Crudup, Jared Leto, Ben Chaplin, Robert Sean Leonard entre eles - até chegar a Christian Bale, ainda não consagrado como astro da série "Batman", de Christopher Nolan e mais conhecido como o garotinho inglês de "Império do sol", de Steven Spielberg. Os produtores ainda tentaram empurrar Edward Norton, mas a cineasta bateu pé em sua escolha, aceitando até mesmo a imposição de escalar nomes conhecidos para o elenco coadjuvante - Willem Dafoe e Reese Witherspoon foram os escolhidos para tal. Foi então que tudo mudou de rumo: Leonardo DiCaprio tornou-se um ator "quente" e foi convidado (contra a vontade de Harron) para protagonizar o filme. Indignada, a diretora pulou fora do projeto, deixando-o nas mãos de Oliver Stone, que mudou tudo, do roteiro ao elenco já escalado.Como se poderia esperar, os problemas começaram: o orçamento inchou, a gritaria contra o conteúdo da obra aumentou, DiCaprio abandonou o projeto para fazer "A praia" - se a pressão popular foi uma das causas de sua deserção ainda não se sabe - e o próprio Oliver Stone desistiu de ficar na cadeira de direção. Sem outra opção disponível, a Lions Gate (o estúdio por trás do filme) voltou atrás e chamou Harron novamente, dessa vez dando-lhe total liberdade artística. Bale retornou ao papel de Patrick Bateman - mesmo contra a vontade de uma das maiores críticas do livro, a feminista Gloria Steinem, que posteriormente se tornaria sua madrasta - e finalmente, depois de muitas idas e vindas, a trama de Ellis estreou no Festival de Cannes de 2000, provocando a dose de controvérsia esperada: a história de um jovem executivo de Wall Street que esconde sua personalidade violenta e homicida por trás de uma aparência saudável e sofisticada dividiu a crítica e confundiu o público, mas transformou-se, imediatamente, em um retrato sério e assustador da superficialidade da América do final do século XX.
Em um tom propositalmente hiperbólico, tanto o romance de Ellis quanto o filme de Harron debatem o extremo niilismo da geração yuppie, retratada com precisão pela trilha sonora recheada de hits dos anos 80 - Bateman mata enquanto discute Phil Collins e Huey Lewis - e pelos diálogos aparentemente ilógicos e surreais disparados por ele e seus colegas, todos vazios e munidos de um egoísmo atroz. Enquanto é investigado pela morte de um executivo tão fútil quanto ele (vivido por Jared Leto), Patrick Bateman preocupa-se apenas em frequentar restaurantes da moda, em vestir-se com os melhores estilistas, em cuidar obsessivamente do corpo e invejar os cartões de visita daqueles a quem julga inferiores. Sua decadência mental rumo ao inferno, portanto, acaba sendo o menor dos seus problemas, principalmente quando o desfecho (ambíguo e desconfortável) lhe mostra que o mundo que o cerca pode ser tão doente quanto ele.
Perturbador e corajoso, "Psicopata americano" tem a seu favor, também, o trabalho insano de Christian Bale, a caminho de se transformar em um dos atores mais competentes de sua geração. Construindo um protagonista desprovido de qualquer traço digo de simpatia ou compaixão, ele acerta em escolher o caminho mais árduo, evitando psicologismos simplistas ou um humor (negro) fácil. Seu desempenho - que conduz todos os outros ao mesmo nível de excelência - é o maior destaque do filme, que com seu tom sombrio e frio não agrada a todos os tipos de público, em especial àquele acostumado com produções mais convencionais. Mesmo assim, é um programa obrigatório para quem quiser compreender o espírito das últimas décadas do século.
terça-feira
THOMAS CROWN - A ARTE DO CRIME
THOMAS CROWN, A ARTE DO CRIME (The Thomas Crown Affair, 1999, United
Artists/MGM, 113min) Direção: John McTiernan. Roteiro: Leslie Dixon,
Kurt Wimmer, estória de Alan R. Trustman. Fotografia: Tom Priestley.
Montagem: John Wright. Música: Bill Conti. Figurino: Kate Harrington,
Mark Zunino. Direção de arte/cenários: Bruno Rubeo/Leslie E. Rollins.
Produção executiva: Michael Tadross. Produção: Pierce Brosnan, Beau St.
Clair. Elenco: Pierce Brosnan, Rene Russo, Denis Leary, Ben Gazzarra,
Frankie Faison, Fritz Weaver, Faye Dunaway. Estreia: 27/7/99
Em 1968, dois dos maiores astros da época, Steve McQueen e Faye Dunaway, protagonizaram "Crown, o magnífico", um policial romântico que se tornaria um clássico do estilo e referência para futuras produções que tentassem misturar dois gêneros aparentemente opostos. Mais de três décadas depois do lançamento do original, com sua eterna falta de criatividade, Hollywood resolveu revisitar a história da improvável história de amor entre um milionário entediado e a investigadora de uma companhia de seguros que está em seu encalço. Revestida com elegância e um erotismo, a nova versão - estrelada pelo então 007 Pierce Brosnan e pela bela Rene Russo - modificou detalhes da trama original e acabou agradando à crítica e ao público, ambos sedentos por filmes adultos que falassem mais ao cérebro do que aos músculos. Dirigido por John McTiernan - cujo currículo repleto de blockbusters explosivos incluia os primeiros "Duro de matar" e "Predador" - "Thomas Crown, a arte do crime" surpreende pela sutileza e pela inteligência em contar uma história policial sem recorrer a um único tiro.
Thomas Crown (Pierce Brosnan, também produtor do filme), é um milionário do setor de aquisições que, sentindo-se aborrecido com a pasmaceira de sua vida fácil, volta e meia envolve-se em complicados esquemas de falsificação das obras de arte que rouba (sem despertar a menor suspeita) até mesmo dos mais sofisticados e seguros museus do mundo. Sua tranquilidade é posta em xeque, porém, quando ele rouba um valiosíssimo Monet, em uma arriscada manobra realizada durante o horário de visitação às obras: disposta a recuperar o quadro e assim poupar milhões de dólares, a seguradora contratada pelo museu chama a competente e dedicada investigadora Catherine Banning (Rene Russo, linda e sexy) para descobrir seu paradeiro. Esperta e experiente, Banning logo passa a desconfiar do charmoso e prestativo Crown e, ignorando os conselhos do policial Michael McCann (Dennis Leary), se aproxima dele com o objetivo de desmascará-lo. Não é preciso muito tempo para que surja entre investigadora e investigado uma atração irresistível, que pode por tudo a perder.
Mantendo o tempo todo a dubiedade em relação aos verdadeiros sentimentos de seus protagonistas em relação um ao outro, o roteiro de "Thomas Crown, a arte do crime" prende a atenção do público em vários niveis: tanto funciona como um romance de alta voltagem erótica (as cenas de sexo, de extremo bom gosto, mostram o pela primeira vez nu o corpo escultural da bela Rene Russo) quanto como um policial bem engendrado, repleto de pistas espalhadas pelo caminho, à espera de serem unidas. O desfecho, um clímax bem armado e inteligente, não decepciona a ninguém, enfatizando a opção de McTiernan em contar uma história utilizando-se do cérebro como principal elemento. Depois de deslumbrar a audiência com tomadas de tirar o fôlego de paisagens deslumbrantes, mansões luxuosas e obras de arte fascinantes (além de momentos românticos pra ninguém botar defeito), ele encerra seu filme com uma sequência exemplarmente bem editada e empolgante, mostrando de uma vez por todas que a sutileza pode substituir sem perda a violência desnecessária. É impossível que o público termine a sessão sem que fique com a bela sensação de ter sido respeitado em sua inteligência, o que, convenhamos, é algo raríssimo em produções comerciais norte-americanas.
Contando ainda com a simpática participação especial de Faye Dunaway - que viveu a investigadora na primeira versão do filme - na pele da terapeuta do enfastiado milionário, "Thomas Crown, a arte do crime" é um entretenimento maduro, esperto, romântico e elegante, que nada contra a corrente do emburrecimento do cinema hollywoodiano. É, também, um dos poucos filmes de sua época a ter como protagonista um casal acima dos 30 anos de idade que não hesita em usar e abusar da sensualidade sem culpa. Palmas para ele!
Em 1968, dois dos maiores astros da época, Steve McQueen e Faye Dunaway, protagonizaram "Crown, o magnífico", um policial romântico que se tornaria um clássico do estilo e referência para futuras produções que tentassem misturar dois gêneros aparentemente opostos. Mais de três décadas depois do lançamento do original, com sua eterna falta de criatividade, Hollywood resolveu revisitar a história da improvável história de amor entre um milionário entediado e a investigadora de uma companhia de seguros que está em seu encalço. Revestida com elegância e um erotismo, a nova versão - estrelada pelo então 007 Pierce Brosnan e pela bela Rene Russo - modificou detalhes da trama original e acabou agradando à crítica e ao público, ambos sedentos por filmes adultos que falassem mais ao cérebro do que aos músculos. Dirigido por John McTiernan - cujo currículo repleto de blockbusters explosivos incluia os primeiros "Duro de matar" e "Predador" - "Thomas Crown, a arte do crime" surpreende pela sutileza e pela inteligência em contar uma história policial sem recorrer a um único tiro.
Thomas Crown (Pierce Brosnan, também produtor do filme), é um milionário do setor de aquisições que, sentindo-se aborrecido com a pasmaceira de sua vida fácil, volta e meia envolve-se em complicados esquemas de falsificação das obras de arte que rouba (sem despertar a menor suspeita) até mesmo dos mais sofisticados e seguros museus do mundo. Sua tranquilidade é posta em xeque, porém, quando ele rouba um valiosíssimo Monet, em uma arriscada manobra realizada durante o horário de visitação às obras: disposta a recuperar o quadro e assim poupar milhões de dólares, a seguradora contratada pelo museu chama a competente e dedicada investigadora Catherine Banning (Rene Russo, linda e sexy) para descobrir seu paradeiro. Esperta e experiente, Banning logo passa a desconfiar do charmoso e prestativo Crown e, ignorando os conselhos do policial Michael McCann (Dennis Leary), se aproxima dele com o objetivo de desmascará-lo. Não é preciso muito tempo para que surja entre investigadora e investigado uma atração irresistível, que pode por tudo a perder.
Mantendo o tempo todo a dubiedade em relação aos verdadeiros sentimentos de seus protagonistas em relação um ao outro, o roteiro de "Thomas Crown, a arte do crime" prende a atenção do público em vários niveis: tanto funciona como um romance de alta voltagem erótica (as cenas de sexo, de extremo bom gosto, mostram o pela primeira vez nu o corpo escultural da bela Rene Russo) quanto como um policial bem engendrado, repleto de pistas espalhadas pelo caminho, à espera de serem unidas. O desfecho, um clímax bem armado e inteligente, não decepciona a ninguém, enfatizando a opção de McTiernan em contar uma história utilizando-se do cérebro como principal elemento. Depois de deslumbrar a audiência com tomadas de tirar o fôlego de paisagens deslumbrantes, mansões luxuosas e obras de arte fascinantes (além de momentos românticos pra ninguém botar defeito), ele encerra seu filme com uma sequência exemplarmente bem editada e empolgante, mostrando de uma vez por todas que a sutileza pode substituir sem perda a violência desnecessária. É impossível que o público termine a sessão sem que fique com a bela sensação de ter sido respeitado em sua inteligência, o que, convenhamos, é algo raríssimo em produções comerciais norte-americanas.
Contando ainda com a simpática participação especial de Faye Dunaway - que viveu a investigadora na primeira versão do filme - na pele da terapeuta do enfastiado milionário, "Thomas Crown, a arte do crime" é um entretenimento maduro, esperto, romântico e elegante, que nada contra a corrente do emburrecimento do cinema hollywoodiano. É, também, um dos poucos filmes de sua época a ter como protagonista um casal acima dos 30 anos de idade que não hesita em usar e abusar da sensualidade sem culpa. Palmas para ele!
segunda-feira
MÚSICA DO CORAÇÃO
MÚSICA DO CORAÇÃO (Music of the heart, 1999, Miramax Pictures, 124min) Direção: Wes Craven. Roteiro: Pamela Gray. Fotografia: Peter Deming. Montagem: Gregg Featherman, Patrick Lussier. Música: Mason Daring. Figurino: Susan Lyall. Direção de arte/cenários: Bruce Alan Miller/George De Titta Jr.. Produção executiva: Amy Slotnick, Harvey Weinstein, Bob Weinstein. Produção: Susan Kaplan, Marianne Maddalena, Allan Miller, Walter Scheuer. Elenco: Meryl Streep, Aidan Quinn, Angela Bassett, Cloris Leachman, Gloria Estefan, Kieran Culkin, Michael Angarano. Estreia: 06/9/99 (Festival de Toronto)
2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Canção Original ("Music of my heart")
Filmes estrelados por professores que lutam contra as adversidades e conquistam o amor dos alunos mesmo desafiando as autoridades são comuns em Hollywood. Desde o clássico "Ao mestre, com carinho", estrelado por Sidney Poitier até produções menos bem recebidas pela crítica, como "Mentes perigosas", com Michelle Pfeiffer, o tema sempre emocionou as plateias, graças à força dramática sempre presente nos inspiradores roteiros. Quando a história é real, então, as lágrimas são impossíveis de segurar, especialmente quando no papel central está Meryl Streep. Como protagonista de "Música do coração", ela pega o papel inicialmente oferecido à Madonna - e que era cobiçado por Meg Ryan e Sandra Bullock - e, com a intensidade de sempre, transforma um drama convencional em mais um espetáculo digno de nota. Perfeccionista ao extremo, Streep aprendeu a tocar violino em um mês e entregou mais uma atuação memorável, que lhe rendeu uma merecida indicação ao Oscar - a décima-segunda em sua vitoriosa carreira. Na pele de Roberta Guaspari, uma professora de violino que transformou a vida de mais de mil alunos da periferia nova-iorquina com seus dez anos de aulas diárias - e que também inspirou um documentário chamado "Small wonders" - Streep comanda novamente o show, acrescentando camadas extras de sensibilidade a uma história já tocante por si mesma.
Dirigido por Wes Craven - que assustou o mundo com seus "A hora do pesadelo" e "Pânico" e resolveu testar a mão com um drama como exigência para comandar o terceiro capítulo da série estrelada por Neve Campbell - "Música do coração" não chega a ser uma produção surpreendente em termos narrativos, mas compensa essa burocracia com uma sinceridade e uma delicadeza que vão se avolumando pouco a pouco para chegar a um clímax capaz de arrepiar até ao mais indiferente espectador. É claro que o talento superlativo de Meryl ajuda muito - por melhor artista pop que seja, Madonna jamais conseguiria emocionar tanto quanto ela - mas é preciso aplaudir também o elenco juvenil, que dá garra e ar fresco a uma trama um tanto quanto repetitiva que só encontra todo seu potencial quando reúne sua protagonista - cuja força e determinação vai crescendo conforme sua autoestima também passa a se recuperar, depois de um divórcio traumático - a seus estudantes, um grupo variados de crianças e adolescentes que descobrem na música clássica uma válvula de escape de seus problemas domésticos e sociais.
Quando o filme começa, Roberta (personagem de Streep) acaba de voltar para a casa da mãe, Assunta (Cloris Leachman), depois de ser abandonada pelo marido, que deixou-a para ficar com uma amiga sua. Como forma de manter-se e aos dois filhos pequenos, ela se oferece para dar aulas de violino em uma escola do Harlem, dirigida pela rígida Janet Williams (Angela Bassett). Aceita como substituta depois que mostra seus dons como educadora e sua paixão pela música, ela passa a ensinar meninos e meninas que vivem em um ambiente desprovido de sensibilidade artística e, aos poucos, vai conquistando a admiração e o respeito da comunidade - mesmo que sua vida pessoal não reflita tanto sucesso, principalmente sua relação com um antigo amigo, Brian Turner (Aidan Quinn). Depois de mais de uma década mantendo o programa de música da escola, porém, o conselho educacional resolve cortar a verba destinada ao projeto. Desesperada com a situação, Roberta conta com a ajuda dos pais dos alunos, dos amigos e até mesmo de figuras consagradas da música para organizar um concerto beneficente e assim mudar o jogo a seu favor.
Contando com uma protagonista carismática e provida de ótimas intenções, "Música do coração" não demora em conquistar o carinho da plateia, principalmente porque não se deixa levar pela tentação de apelar para a lágrima fácil. Quando a emoção surge - e ela frequentemente se mostra, às vezes timidamente, outras nem tanto - é porque Craven consegue manipular com sucesso a fórmula que está em suas mãos, sem deixá-la passar do ponto. Dirigindo com suavidade e apostando na química entre Streep, seus jovens atores e até na cantora Gloria Estefan como atriz (na pele de uma das professoras aliadas de Roberta em seus primeiros dias), o famoso criador do temível Freddy Kruger dá um passo à frente na carreira, mostrando que talento para outros gêneros não lhe falta - ainda que até hoje ele não tenha apostado em outro drama. Bonito, sensível e inspirador, "Música do coração" fala à alma.
2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Canção Original ("Music of my heart")
Filmes estrelados por professores que lutam contra as adversidades e conquistam o amor dos alunos mesmo desafiando as autoridades são comuns em Hollywood. Desde o clássico "Ao mestre, com carinho", estrelado por Sidney Poitier até produções menos bem recebidas pela crítica, como "Mentes perigosas", com Michelle Pfeiffer, o tema sempre emocionou as plateias, graças à força dramática sempre presente nos inspiradores roteiros. Quando a história é real, então, as lágrimas são impossíveis de segurar, especialmente quando no papel central está Meryl Streep. Como protagonista de "Música do coração", ela pega o papel inicialmente oferecido à Madonna - e que era cobiçado por Meg Ryan e Sandra Bullock - e, com a intensidade de sempre, transforma um drama convencional em mais um espetáculo digno de nota. Perfeccionista ao extremo, Streep aprendeu a tocar violino em um mês e entregou mais uma atuação memorável, que lhe rendeu uma merecida indicação ao Oscar - a décima-segunda em sua vitoriosa carreira. Na pele de Roberta Guaspari, uma professora de violino que transformou a vida de mais de mil alunos da periferia nova-iorquina com seus dez anos de aulas diárias - e que também inspirou um documentário chamado "Small wonders" - Streep comanda novamente o show, acrescentando camadas extras de sensibilidade a uma história já tocante por si mesma.
Dirigido por Wes Craven - que assustou o mundo com seus "A hora do pesadelo" e "Pânico" e resolveu testar a mão com um drama como exigência para comandar o terceiro capítulo da série estrelada por Neve Campbell - "Música do coração" não chega a ser uma produção surpreendente em termos narrativos, mas compensa essa burocracia com uma sinceridade e uma delicadeza que vão se avolumando pouco a pouco para chegar a um clímax capaz de arrepiar até ao mais indiferente espectador. É claro que o talento superlativo de Meryl ajuda muito - por melhor artista pop que seja, Madonna jamais conseguiria emocionar tanto quanto ela - mas é preciso aplaudir também o elenco juvenil, que dá garra e ar fresco a uma trama um tanto quanto repetitiva que só encontra todo seu potencial quando reúne sua protagonista - cuja força e determinação vai crescendo conforme sua autoestima também passa a se recuperar, depois de um divórcio traumático - a seus estudantes, um grupo variados de crianças e adolescentes que descobrem na música clássica uma válvula de escape de seus problemas domésticos e sociais.
Quando o filme começa, Roberta (personagem de Streep) acaba de voltar para a casa da mãe, Assunta (Cloris Leachman), depois de ser abandonada pelo marido, que deixou-a para ficar com uma amiga sua. Como forma de manter-se e aos dois filhos pequenos, ela se oferece para dar aulas de violino em uma escola do Harlem, dirigida pela rígida Janet Williams (Angela Bassett). Aceita como substituta depois que mostra seus dons como educadora e sua paixão pela música, ela passa a ensinar meninos e meninas que vivem em um ambiente desprovido de sensibilidade artística e, aos poucos, vai conquistando a admiração e o respeito da comunidade - mesmo que sua vida pessoal não reflita tanto sucesso, principalmente sua relação com um antigo amigo, Brian Turner (Aidan Quinn). Depois de mais de uma década mantendo o programa de música da escola, porém, o conselho educacional resolve cortar a verba destinada ao projeto. Desesperada com a situação, Roberta conta com a ajuda dos pais dos alunos, dos amigos e até mesmo de figuras consagradas da música para organizar um concerto beneficente e assim mudar o jogo a seu favor.
Contando com uma protagonista carismática e provida de ótimas intenções, "Música do coração" não demora em conquistar o carinho da plateia, principalmente porque não se deixa levar pela tentação de apelar para a lágrima fácil. Quando a emoção surge - e ela frequentemente se mostra, às vezes timidamente, outras nem tanto - é porque Craven consegue manipular com sucesso a fórmula que está em suas mãos, sem deixá-la passar do ponto. Dirigindo com suavidade e apostando na química entre Streep, seus jovens atores e até na cantora Gloria Estefan como atriz (na pele de uma das professoras aliadas de Roberta em seus primeiros dias), o famoso criador do temível Freddy Kruger dá um passo à frente na carreira, mostrando que talento para outros gêneros não lhe falta - ainda que até hoje ele não tenha apostado em outro drama. Bonito, sensível e inspirador, "Música do coração" fala à alma.
domingo
O COLECIONADOR DE OSSOS
O COLECIONADOR DE OSSOS (The bone collector, 1999, Universal
Pictures/Columbia Pictures, 118min) Direção: Philip Noyce. Roteiro:
Jeremy Iacone, romance de Jeffery Deaver. Fotografia: Dean Semler.
Montagem: William Hoy. Música: Craig Armstrong. Figurino: Odette
Gaudory. Direção de arte/cenários: Nigel Phelps/Marie-Claude Gosselin,
Susan C. MacQuarrie, Harriet Zucker. Produção executiva: Dan Jinks,
Michael Klawitter. Produção: Martin Bregman, Michael Bregman, Louis A.
Stroller. Elenco: Denzel Washington, Angelina Jolie, Queen Latifah,
Michael Rooker, Luis Guzman, Mike McGlone, Leland Orser, Ed O'Neil,
Bobby Cannavale. Estreia: 29/8/99 (Festival de Montreal)
O ano de 1999 foi movimentado para Denzel Washington e Angelina Jolie: antes mesmo que passassem a acumular elogios e prêmios por suas atuações em "Hurricane, o furacão" e "Garota, interrompida", respectivamente, os dois atores tiveram o gostinho de brincar de gato e rato no suspense policial "O colecionador de ossos", baseado em livro do escritor Jeffery Deaver. Uma espécie de "O silêncio dos inocentes" sem ambições psicológicas maiores do que as necessárias para prender a atenção da plateia, o filme tem a seu favor a intensidade dramática de Washington - um dos atores mais confiáveis de Hollywood - e a direção segura de Philip Noyce, mas esbarra em tantas implausibilidades e em um final tão anti-climático que nem mesmo os esforços da produção caprichada conseguem disfarçar a fragilidade de sua trama.
O protagonista vivido por Washington no piloto automático é Lincoln Rhyme, um policial tornado famoso por seus métodos investigativos heterodoxos e pelos livros que escreveu sobre o assunto. Tetraplégico após um acidente de trabalho mas ainda ajudando a polícia mesmo preso a uma cama que limita seus movimentos - e que o faz flertar seriamente com a eutanásia mesmo contra a vontade de sua enfermeira, Thelma (Queen Latifah) - ele é procurado por seu ex-parceiro, Paulie Selitto (Ed O'Neill) para colaborar na caça a um psicopata que, caçando suas vítimas em seu táxi, anda deixando pistas que remetem a algo que os detetives nova-iorquinos não conseguem compreender em sua totalidade. Sentindo-se desafiado, Rhyme aceita o desafio, mas exige a ajuda de Amelia Donaghy (Angelina Jolie), uma jovem policial que está em vias de abandonar as ruas para dedicar-se a uma carreira menos violenta dentro da corporação. A princípio hesitante - por não ter experiência e nem estômago para coletar as evidências, além de ter um passado traumático - ela muda de ideia e torna-se o corpo de Lincoln nas cenas dos crimes. Juntos, eles partem em busca da identidade e dos motivos do serial killer, que, entre outras delicadezas, arranca pedaços dos ossos de suas vítimas.
Philip Noyce acerta em cheio no clima que propõe a "O colecionador de ossos", exalando tensão em cada sequência, principalmente por conta da trilha sonora do veterano Craig Armstrong e da fotografia soturna do oscarizado Dean Semler - vencedor da estatueta por "Dança com lobos". O problema resume-se basicamente à trama, inverossímil e carente da intensidade psicológica que separa os filmes apenas corretos daqueles que se tornam clássicos inesquecíveis. É difícil, por exemplo, acreditar nas epifanias de Rhyme: por mais genial que ele seja ou por mais experiência que tenha, a facilidade com que ele entra na mente do assassino - e entende todas as suas motivações e antecipa seus próximos passos - soa forçada demais até mesmo para um público acostumado a explosões e efeitos visuais sem sentido. As revelações finais sobre o nome do assassino também soam artificiais e apressadas, como se fosse extremamente necessário surpreender a plateia com um desfecho inesperado (e carente de lógica). Mesmo que esse exagero venha do romance de Deaver - um escritor respeitado e querido por um público fiel - em cinema é quase impossível comprar a premissa básica, o que acaba por comprometer fatalmente o resultado final, por mais esforço que haja por parte da direção e do talentoso elenco.
Prejudicada por uma personagem sem maiores justificativas dramáticas que não sejam comerciais - e desprovida de qualquer traço da sensualidade que se tornaria uma de suas maiores características - Angelina Jolie faz o que pode em cena, transmitindo a seriedade exigida pelo papel mesmo quando o exagero toma conta da história. Queen Latifah brilha sempre que entra em cena, com uma presença que ficaria evidente com sua indicação ao Oscar de coadjuvante, por "Chicago", três anos depois. E Denzel Washington, do alto de sua consagração como um dos mais importantes atores negros do cinema americano, impõe respeito e credibilidade a um personagem que, em mãos menos eficientes, poderia resvalar facilmente ou para a caricatura ou para o dramalhão excessivo. Econômico e sutil, ele dá sustentação a um filme eficiente, mas exagerado demais em suas tentativas de chocar o público. Assistível, mas facilmente esquecível.
O ano de 1999 foi movimentado para Denzel Washington e Angelina Jolie: antes mesmo que passassem a acumular elogios e prêmios por suas atuações em "Hurricane, o furacão" e "Garota, interrompida", respectivamente, os dois atores tiveram o gostinho de brincar de gato e rato no suspense policial "O colecionador de ossos", baseado em livro do escritor Jeffery Deaver. Uma espécie de "O silêncio dos inocentes" sem ambições psicológicas maiores do que as necessárias para prender a atenção da plateia, o filme tem a seu favor a intensidade dramática de Washington - um dos atores mais confiáveis de Hollywood - e a direção segura de Philip Noyce, mas esbarra em tantas implausibilidades e em um final tão anti-climático que nem mesmo os esforços da produção caprichada conseguem disfarçar a fragilidade de sua trama.
O protagonista vivido por Washington no piloto automático é Lincoln Rhyme, um policial tornado famoso por seus métodos investigativos heterodoxos e pelos livros que escreveu sobre o assunto. Tetraplégico após um acidente de trabalho mas ainda ajudando a polícia mesmo preso a uma cama que limita seus movimentos - e que o faz flertar seriamente com a eutanásia mesmo contra a vontade de sua enfermeira, Thelma (Queen Latifah) - ele é procurado por seu ex-parceiro, Paulie Selitto (Ed O'Neill) para colaborar na caça a um psicopata que, caçando suas vítimas em seu táxi, anda deixando pistas que remetem a algo que os detetives nova-iorquinos não conseguem compreender em sua totalidade. Sentindo-se desafiado, Rhyme aceita o desafio, mas exige a ajuda de Amelia Donaghy (Angelina Jolie), uma jovem policial que está em vias de abandonar as ruas para dedicar-se a uma carreira menos violenta dentro da corporação. A princípio hesitante - por não ter experiência e nem estômago para coletar as evidências, além de ter um passado traumático - ela muda de ideia e torna-se o corpo de Lincoln nas cenas dos crimes. Juntos, eles partem em busca da identidade e dos motivos do serial killer, que, entre outras delicadezas, arranca pedaços dos ossos de suas vítimas.
Philip Noyce acerta em cheio no clima que propõe a "O colecionador de ossos", exalando tensão em cada sequência, principalmente por conta da trilha sonora do veterano Craig Armstrong e da fotografia soturna do oscarizado Dean Semler - vencedor da estatueta por "Dança com lobos". O problema resume-se basicamente à trama, inverossímil e carente da intensidade psicológica que separa os filmes apenas corretos daqueles que se tornam clássicos inesquecíveis. É difícil, por exemplo, acreditar nas epifanias de Rhyme: por mais genial que ele seja ou por mais experiência que tenha, a facilidade com que ele entra na mente do assassino - e entende todas as suas motivações e antecipa seus próximos passos - soa forçada demais até mesmo para um público acostumado a explosões e efeitos visuais sem sentido. As revelações finais sobre o nome do assassino também soam artificiais e apressadas, como se fosse extremamente necessário surpreender a plateia com um desfecho inesperado (e carente de lógica). Mesmo que esse exagero venha do romance de Deaver - um escritor respeitado e querido por um público fiel - em cinema é quase impossível comprar a premissa básica, o que acaba por comprometer fatalmente o resultado final, por mais esforço que haja por parte da direção e do talentoso elenco.
Prejudicada por uma personagem sem maiores justificativas dramáticas que não sejam comerciais - e desprovida de qualquer traço da sensualidade que se tornaria uma de suas maiores características - Angelina Jolie faz o que pode em cena, transmitindo a seriedade exigida pelo papel mesmo quando o exagero toma conta da história. Queen Latifah brilha sempre que entra em cena, com uma presença que ficaria evidente com sua indicação ao Oscar de coadjuvante, por "Chicago", três anos depois. E Denzel Washington, do alto de sua consagração como um dos mais importantes atores negros do cinema americano, impõe respeito e credibilidade a um personagem que, em mãos menos eficientes, poderia resvalar facilmente ou para a caricatura ou para o dramalhão excessivo. Econômico e sutil, ele dá sustentação a um filme eficiente, mas exagerado demais em suas tentativas de chocar o público. Assistível, mas facilmente esquecível.
sábado
OS PICARETAS
OS PICARETAS (Bowfinger, 1999, Universal Pictures, 97min) Direção:
Frank Oz. Roteiro: Steve Martin. Fotografia: Ueli Steiger. Montagem:
Richard Pearson. Música: David Newman. Figurino: Joseph G. Aulisi.
Direção de arte/cenários: Jackson DeGovia/K.C. Fox. Produção executiva:
Karen Kehela, Bernie Williams. Produção: Brian Grazer. Elenco: Steve
Martin, Eddie Murphy, Heather Graham, Robert Downey Jr., Terence Stamp,
Christine Baranski, Jamie Kennedy, Adam Alexi-Malle. Estreia: 13/8/99
Quando o cineasta Frank Oz dirigiu Steve Martin ao lado de Michael Caine em "Os safados" (88) - refilmagem livre de "Dois farristas irresistíveis", com Marlon Brando e David Niven - a comédia norte-americana ganhou um clássico instantâneo, um filme repleto de humor inteligente e irônico que misturava a tradicional fleuma britânica de Caine com a picardia ianque e quase vulgar de Martin. Cineasta ciente dos meandros da comédia - um gênero que frequentemente escorrega no mau-gosto ou simplesmente na falta de graça - Oz voltou a colaborar com Martin em outras ocasiões, como no apenas simpático "Como agarrar um marido", mas foi somente em 1999 que os dois voltaram a acertar a mão juntos. Tendo os bastidores do cinema como pano de fundo e a adição luxuosa de Eddie Murphy ao time vencedor, "Os picaretas" não só fez mais sucesso que os outros filmes de Murphy lançados quase à mesma época - "Até que a fuga nos separe" e "O professor aloprado 2" - como recebeu elogios rasgados da crítica, que encantou-se com a mordacidade carinhosa com que a indústria de Hollywood foi retratada. Recheado de piadas engraçadíssimas, atuações inspiradas e um cinismo irresistível, "Os picaretas" é uma comédia sem contra-indicações.
O próprio Steve Martin escreveu a história de Robert K. Bowfinger, um produtor de filmes B que, decadente e sem perspectivas profissionais imediatas, vê sua grande chance de sair do marasmo quando põe os olhos no roteiro de um amigo, uma ficção científica chamada "Chuva gorda". Entusiasmado com a possibilidade de voltar aos sets de filmagens, ele reúne um grupo de antigos colaboradores - como a dedicada atriz Carol (Christine Baranski) e o leal Dave (Jamie Kennedy) - para levar a novidade adiante, mas percebe que, para conseguir competir como gente grande com produções de orçamentos milionários, precisa necessariamente de um grande astro. Entra em cena, então, Kit Ramsey (Eddie Murphy), um dos mais populares atores do momento: sem que ninguém saiba, Bowfinger resolve filmar o ator em seu dia-a-dia e forçar situações em sua rotina para encaixar no script. Assim, Ramsey - um astro paranoico e mulherengo que acredita estar sendo perseguido por extra-terrestres - entra à sua própria revelia na bagunça, que fica ainda mais complicada com a chegada de um sósia seu, o tímido Jiff (também Murphy), que serve como dublé nas cenas perigosas.
Criando situações cada vez mais insanas e contando com um elenco de personagens hilariantes, Martin fez do roteiro de seu "Os picaretas" uma comédia de muitas risadas, fato raro em uma Hollywood tomada por filmes formulaicos e pouco ousados, que tentam arrancar gargalhadas com piadas sobre fluidos corporais e constrangimentos dos mais variados. Sua trama, reta e simples, busca o humor na identificação com as várias referências (diretas ou não) com o mundo a que retrata - e a graça da piada fica ainda maior quando se sabe de onde ela vem. Daisy, a personagem de Heather Graham, por exemplo, pode ser apenas a ambiciosa moça do interior que sonha em tornar-se atriz e assim vai pulando de cama em cama para conseguir atingir seus objetivos como pode ser uma sátira à Anne Heche, que teve um caso com Martin e ficou famosa no final da década de 90 ao envolver-se com Ellen De Generes. Rindo ainda da moda dos astros em terem um guru espiritual - aqui representado pelo personagem do sempre sinistro Terence Stamp - e do vício em sexo do personagem de Murphy (que encaixou o filme em sua complicada agenda apenas por ser fã de Steve Martin), "Os picaretas" é, ainda, uma homenagem aos que fazem cinema por amor, sendo assim uma espécie de "Ed Wood" - filmaço de Tim Burton sobre o pior diretor de todos os tempos - que não se leva a sério.
Superando de longe a média das comédias lançadas em sua época, "Os picaretas" é uma pérola de humor que consegue ao mesmo tempo ser sofisticado e popular, um equilíbrio raro e louvável conquistado pela experiência de Oz - que recentemente havia marcado outro golaço com o sucesso "Será que ele é?", estrelado por Kevin Kline - e pelo talento de Martin e Eddie Murphy, este último em um de seus melhores trabalhos nas telas. Com um elenco coadjuvante afiadíssimo (com destaque para a sempre incrível Christine Baranski e uma participação especial de Robert Downey Jr. como um executivo da indústria de cinema) e uma história espertíssima que brinca com o cinema e com aqueles que o fazem, não deixa de ser também uma bela homenagem à sétima arte.
Quando o cineasta Frank Oz dirigiu Steve Martin ao lado de Michael Caine em "Os safados" (88) - refilmagem livre de "Dois farristas irresistíveis", com Marlon Brando e David Niven - a comédia norte-americana ganhou um clássico instantâneo, um filme repleto de humor inteligente e irônico que misturava a tradicional fleuma britânica de Caine com a picardia ianque e quase vulgar de Martin. Cineasta ciente dos meandros da comédia - um gênero que frequentemente escorrega no mau-gosto ou simplesmente na falta de graça - Oz voltou a colaborar com Martin em outras ocasiões, como no apenas simpático "Como agarrar um marido", mas foi somente em 1999 que os dois voltaram a acertar a mão juntos. Tendo os bastidores do cinema como pano de fundo e a adição luxuosa de Eddie Murphy ao time vencedor, "Os picaretas" não só fez mais sucesso que os outros filmes de Murphy lançados quase à mesma época - "Até que a fuga nos separe" e "O professor aloprado 2" - como recebeu elogios rasgados da crítica, que encantou-se com a mordacidade carinhosa com que a indústria de Hollywood foi retratada. Recheado de piadas engraçadíssimas, atuações inspiradas e um cinismo irresistível, "Os picaretas" é uma comédia sem contra-indicações.
O próprio Steve Martin escreveu a história de Robert K. Bowfinger, um produtor de filmes B que, decadente e sem perspectivas profissionais imediatas, vê sua grande chance de sair do marasmo quando põe os olhos no roteiro de um amigo, uma ficção científica chamada "Chuva gorda". Entusiasmado com a possibilidade de voltar aos sets de filmagens, ele reúne um grupo de antigos colaboradores - como a dedicada atriz Carol (Christine Baranski) e o leal Dave (Jamie Kennedy) - para levar a novidade adiante, mas percebe que, para conseguir competir como gente grande com produções de orçamentos milionários, precisa necessariamente de um grande astro. Entra em cena, então, Kit Ramsey (Eddie Murphy), um dos mais populares atores do momento: sem que ninguém saiba, Bowfinger resolve filmar o ator em seu dia-a-dia e forçar situações em sua rotina para encaixar no script. Assim, Ramsey - um astro paranoico e mulherengo que acredita estar sendo perseguido por extra-terrestres - entra à sua própria revelia na bagunça, que fica ainda mais complicada com a chegada de um sósia seu, o tímido Jiff (também Murphy), que serve como dublé nas cenas perigosas.
Criando situações cada vez mais insanas e contando com um elenco de personagens hilariantes, Martin fez do roteiro de seu "Os picaretas" uma comédia de muitas risadas, fato raro em uma Hollywood tomada por filmes formulaicos e pouco ousados, que tentam arrancar gargalhadas com piadas sobre fluidos corporais e constrangimentos dos mais variados. Sua trama, reta e simples, busca o humor na identificação com as várias referências (diretas ou não) com o mundo a que retrata - e a graça da piada fica ainda maior quando se sabe de onde ela vem. Daisy, a personagem de Heather Graham, por exemplo, pode ser apenas a ambiciosa moça do interior que sonha em tornar-se atriz e assim vai pulando de cama em cama para conseguir atingir seus objetivos como pode ser uma sátira à Anne Heche, que teve um caso com Martin e ficou famosa no final da década de 90 ao envolver-se com Ellen De Generes. Rindo ainda da moda dos astros em terem um guru espiritual - aqui representado pelo personagem do sempre sinistro Terence Stamp - e do vício em sexo do personagem de Murphy (que encaixou o filme em sua complicada agenda apenas por ser fã de Steve Martin), "Os picaretas" é, ainda, uma homenagem aos que fazem cinema por amor, sendo assim uma espécie de "Ed Wood" - filmaço de Tim Burton sobre o pior diretor de todos os tempos - que não se leva a sério.
Superando de longe a média das comédias lançadas em sua época, "Os picaretas" é uma pérola de humor que consegue ao mesmo tempo ser sofisticado e popular, um equilíbrio raro e louvável conquistado pela experiência de Oz - que recentemente havia marcado outro golaço com o sucesso "Será que ele é?", estrelado por Kevin Kline - e pelo talento de Martin e Eddie Murphy, este último em um de seus melhores trabalhos nas telas. Com um elenco coadjuvante afiadíssimo (com destaque para a sempre incrível Christine Baranski e uma participação especial de Robert Downey Jr. como um executivo da indústria de cinema) e uma história espertíssima que brinca com o cinema e com aqueles que o fazem, não deixa de ser também uma bela homenagem à sétima arte.
Assinar:
Postagens (Atom)
VAMPIROS DO DESERTO
VAMPIROS DO DESERTO (The forsaken, 2001, Screen Gems/Sandstorm Films, 90min) Direção e roteiro: J. S. Cardone. Fotografia: Steven Bernstein...

-
EVIL: RAÍZES DO MAL (Ondskan, 2003, Moviola Film, 113min) Direção: Mikael Hafstrom. Roteiro: Hans Gunnarsson, Mikael Hafstrom, Klas Osterg...
-
INVASÃO DE PRIVACIDADE (Sliver, 1993, Paramount Pictures, 103min) Direção: Phillip Noyce. Roteiro: Joe Eszterhas, romance de Ira Levin. ...
-
NÃO FALE O MAL (Speak no evil, 2022, Profile Pictures/OAK Motion Pictures/Det Danske Filminstitut, 97min) Direção: Christian Tafdrup. Roteir...