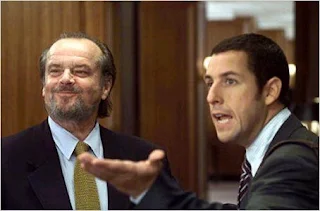O DIREITO DO MAIS FORTE É A LIBERDADE (Faustrecht der Freiheit/Fox and his friends, 1975, City Film/Tango Film, 124min) Direção e roteiro: Rainer Werner Fassbinder. Fotografia: Michael Balhaus. Montagem: Thea Eymesz. Música: Peer Raben. Figurino: Helga Kempke. Direção de arte: Kurt Raab. Produção: Rainer Werner Fassbinder. Elenco: Rainer Werner Fassbinder, Karlheinz Bohm, Peter Chatel, Adrian Hoven, Christiane Maybach. Estreia: 15/5/75 (Festival de Cannes)
Um dos mais importantes representantes do Novo Cinema Alemão - surgido na influência da Nouvelle Vague e de grande importância cultural nas décadas de 1960 e 1970 -, Rainer Werner Fassbinder sempre recusou-se a rótulos. Com mais de 40 obras no currículo, transitou entre filmes de gângsteres, épicos sobre as consequências da II Guerra, adaptações teatrais e melodramas, sempre ressaltando nelas o aspecto humano das relações e suas fissuras. Polêmico na frente e atrás das câmeras - com uma legião de detratores que rivalizam com o amplo número de admiradores -, o diretor/ator/produtor/roteirista morreu em 1982, aos 37 anos de idade, deixando para trás algumas produções cruciais para a filmografia de seu país, mesmo que controversas e incômodas. Uma delas, "O direito do mais forte é a liberdade" é sintomática: uma história forte e contundente sobre a futilidade e a fragilidade dos vínculos emocionais no mundo homossexual que critica, ao mesmo tempo, a sociedade em geral e o mundo gay em particular. Amargo, pessimista e sem firulas estéticas e/ou narrativas, o filme que levou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Chicago de 1975 mantém uma dolorosa atualidade que apenas comprova a visão incisiva do diretor sobre o mundo que o rodeava.
O próprio Fassbinder assume o papel principal do filme, Fox Biberkopf, um jovem homossexual que, depois da prisão do amante, vê sua vida transformada com uma vitória na loteria. Oriundo da classe operária e sem qualquer tipo de sofisticação (social ou cultural), ele se envolve com Eugen (Peter Chatel), o herdeiro de uma empresa em constante crises financeiras. Sentindo-se deslocado com a vida de luxo do novo namorado, Fox se deixa manipular por ele, aceitando suas aulas de etiqueta e se afastando, mesmo contra a vontade, de sua antiga vida operária - o que inclui sua vulgar irmã, Hedwig (Christiane Maybach). Tentando encaixar-se em uma vida que não é sua, Fox sente dificuldade em equilibrar seus desejos de ascensão e sua real personalidade - e conforme sua relação com Eugen vai se aprofundando, mais explorado ele passa a ser (pelos sogros, pelos supostos amigos e até pelo namorado).
Com uma estética crua que foge do sentimentalismo e se dedica a contar sua história com o mínimo de recursos artificiais, Fassbinder constrói, aos poucos, uma fábula melancólica que examina, sem meio-termos, a mediocridade da classe burguesa alemã e a futilidade do universo gay masculino, perdido em um mundo de aparências e promiscuidade. Não é uma imagem agradável, e sendo o diretor homossexual assumido - ainda que repleto de incoerências em sua vida pessoal -, não deixa de ser também um retrato bastante acurado e negativo. A coragem de Fassbinder reside em escolher como algozes não uma sociedade homofóbica e preconceituosa (apesar de haver, subrepticiamente, uma crítica a ela), mas sim os próprios homossexuais: enquanto Fox serve como a vítima ingênua e quase romântica - cuja generosidade acaba por ser sua maior tragédia -, Eugen e seus amigos (em níveis diversos de frivolidade e apatia) se mostram parte integrante de um sistema cruel e impiedoso. Se os gays mostrados no cinema dos anos 1970 se dividiam entre a caricatura e a violência - quando não eram apenas sacos de pancada ou condenados a desgraças variadas -, no filme de Fassbinder eles assumem papel de domínio e livre arbítrio, com tudo que isso tem de bom e de ruim. Fox não deixa de ser um anti-herói - apesar de sua generosidade, ele nunca abandona seu desejo quase patológico de ascender social e culturalmente, o que acaba por vir a ser sua tragédia -, mas o roteiro jamais cai na armadilha de fazer dele um mártir inocente. O final (em imagens secas, mas dolorosas em sua realidade) apenas enfatiza o tom cruel imposto desde suas primeiras cenas, e deixa um gosto amargo na boca do espectador - mas em hipótese alguma busca a emoção fácil.
"O direito do mais forte é a liberdade" não é, nem de longe, o filme mais famoso e celebrado de Fassbinder - "As lágrimas amargas de Petra Von Kant" (1972), "O casamento de Maria Braun" (1979), "Lili Marlene" (1981) e "Querelle" (1982) são facilmente suas obras mais conhecidas. Porém, é inegável que encapsula boa parte de suas obsessões como cineasta. Se não se sai exatamente bem como ator - e nem tem um carisma forte o bastante para angariar a simpatia incondicional do público -, ao menos como diretor ele atinge seu objetivo de incomodar e questionar o status quo. É uma característica marcante de sua filmografia - e justifica a importância de seu nome dentro do cinema alemão.