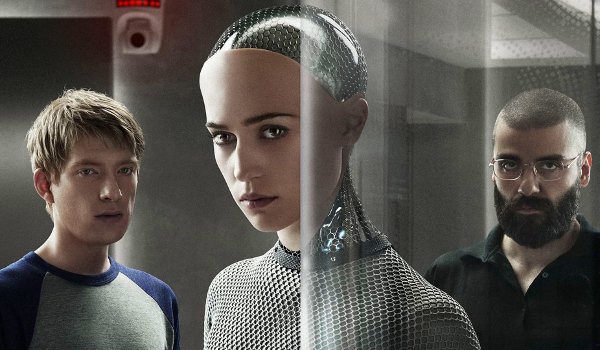A GAROTA NO TREM (The girl on the train, 2016, DreamWorks, 112min) Direção: Tate Taylor. Roteiro: Erin Cressida Wilson, romance de Paula Hawkins. Fotografia: Charlotte Bruus Christensen. Montagem: Andrew Buckland, Michael McCusker. Música: Danny Elfman. Figurino: Michelle Matland, Ann Roth. Direção de arte/cenários: Kevin Thompson/Susan Bode Tyson. Produção executiva: Celia Costas. Produção: Jared LeBoff, Marc Plattt. Elenco: Emily Blunt, Justin Theroux, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Lisa Kudrow, Édgar Ramirez, Laura Prepon, Allison Janney. Estreia: 20/9/16
Sucesso absoluto de vendas, com mais de 3 milhões de cópias vendidas somente nos EUA até julho de 2015, o romance "A garota no trem" não demorou para chamar a atenção da sempre carente de criatividade Hollywood. Não era para menos: além da popularidade do livro (que fatalmente levaria seus leitores às salas de cinema), a trama criada pela escritora inglesa Paula Hawkins servia perfeitamente a uma adaptação cinematográfica, com suas personagens complexas e surpreendentes e um final inesperado e imprevisível bem ao gosto do público médio. O resultado nas bilheterias não desanimou o estúdio responsável pelo projeto - a DreamWorks - e mais de 170 milhões de dólares foram arrecadados pelo mundo, um resultado bastante satisfatório quando se trata de um filme adulto, sem efeitos visuais elaborados ou grandes nomes no cartaz. Estrelado por uma fabulosa Emily Blunt - indicada ao BAFTA (o Oscar britânico) e ao prêmio do Sindicato de Atores - e dirigido com segurança por Tate Taylor (cujo "Histórias cruzadas" foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2012), "A garota no trem" é uma adaptação fiel e inteligente, que explora as maiores qualidades de sua origem literária enquanto brinca com todas as possibilidades do cinema de gênero, prendendo a atenção até seus minutos finais sem deixar de lado o cuidado com as nuances dramáticas de seus personagens - todos repletos de mistérios, segredos e mentiras que vão se revelando aos poucos diante dos olhos do espectador.
Mantendo no filme a estrutura do livro, composta por três diferentes pontos-de-vista e com idas e vindas no tempo para confundir o público com pistas que podem ou não levar à solução de um possível crime, "A garota no trem" envolve já desde as primeiras cenas, que mostram o desequilíbrio físico e mental de sua protagonista, Rachel Watson (Emily Blunt, caprichando na interpretação sem cair no exagero): abandonada pelo namorado, Tom (Justin Theroux), e sendo obrigada a ver sua felicidade com a nova mulher, Anna (Rebecca Ferguson) e seu bebê - que moram na casa que compraram juntos - a jovem passa os dias dedicada a dois atos pouco saudáveis. Primeiro, está cada vez mais entregue à bebida, entornando doses violentas de vodca que a fazem inclusive ter lapsos de memória. Em segundo, ela passa diariamente diante da casa de Tom - e é essa rotina aparentemente banal que irá mudar completamente o rumo de seus dias. Na casa ao lado da de Tom, mora um casal apaixonado e atraente, que representam para Rachel a vida que ela gostaria de ter. Obcecada pela jovem bela e loura, Rachel fica chocada quando, um dia, a vê aos beijos com outro homem - e logo em seguida fica sabendo que ela desapareceu misteriosamente. O bizarro sentimento de traição - afinal, como ela poderia ter estragado a vida tão perfeita que tinha apenas por um caso qualquer? - logo dá lugar à sensação de que, na noite do desaparecimento de Megan Hipwell (Haley Bennett), alguma coisa aconteceu também com ela. Só o que ela recorda é de ter tentando falar com a desaparecida - e de ter acordado na manhã seguinte machucada e sem lembranças completas. Com medo de ela mesma ter feito algo errado, Rachel inicia uma busca desesperada por seus momentos no dia do crime - e se envolve tanto com o marido de Megan, Scott (Luke Evans), quanto com seu psiquiatra, Kamal Abdic (Édgar Ramirez), com a intenção de encontrar a verdade.
Exatamente como no livro, "A garota no trem" dá voz às três mulheres que são a engrenagem da narrativa. Como um quebra-cabeças angustiante e tenso, Rachel, Megan e Anna fornecem peças que se completam e/ou contradizem, de acordo com o desenrolar da engenhosa trama de Hawkins, que mistura com destreza temas delicados como abuso doméstico, alcoolismo, obsessão e traumas emocionais em um atraente pacote visual - cortesia da bela fotografia que se utiliza de sombras e luzes difusas para recriar em imagens o opressivo universo de Rachel, em que a verdade e a imaginação se sobrepõem sem ordem e métrica. A edição ágil e urgente também colabora para a sensação de perigo constante que envolve os personagens, em um trabalho instigante que desorienta a plateia até o terço final, quando finalmente tudo se encaixa e a verdade vem à tona - não com a mesma força do livro, mas ainda assim potente o bastante para não decepcionar a quem ficou quase duas horas tentando descobrir se Rachel realmente matou a mulher que admirava (ou isso foi ato de algum dos homens que a rondam no presente e no passado). Um conjunto bem azeitado entre direção, roteiro, técnica e principalmente elenco - que, a princípio, seria bastante diferente do que chegou às telas.
Emily Blunt sempre foi a primeira escolha de Taylor - apesar de ter sido em Michelle Williams que a autora do livro pensava quando criou a personagem. O mesmo não pode ser dito do restante do elenco, todos importantíssimos para dar vida ao roteiro de Erin Cressida Wilson mas cujos atores participaram de uma intensa dança das cadeiras. Primeiro foi Chris Evans quem abandonou o projeto, culpa de sua participação no filme "Um laço de amor", e foi substituído por Justin Theroux, mais conhecido como o marido de Jennifer Aniston. Em seguida foi a vez de Jared Leto, que faria o papel de Scott, marido da mulher desaparecida e que, assim como Chris, teve problemas de agenda e abdicou do papel - deixando-o para Luke Evans, conhecido dos fãs de filmes de ação por seu trabalho nos capítulos 6 e 7 da série "Velozes e furiosos" e nos dois últimos filmes da trilogia "O Hobbit". Por fim, a atriz que viveria um dos mais cruciais da trama (o da complexa e misteriosa Megan Hipwell) acabou sendo a jovem Haley Bennett, revelada ao público como uma Britney Spears genérica na comédia "Letra e música" (2007) e que estava saindo das filmagens do remake de "Sete homens e um destino". Ficando com o papel que teve Margot Robbie e Kate Mara como possíveis donas, Bennett demonstra um talento insuspeito, oferecendo à sua personagem uma gama de emoções capaz de apavorar gente muito mais experiente. Quase uma antítese de Rachel Watson, sua Megan Hipwell vai sendo desvendada gradualmente à plateia - e no final ela acaba sendo a grande surpresa de um filme que, contrariando a lógica dos grandes estúdios, tem como protagonistas três mulheres comuns, dotadas apenas de sua força inerente e sua coragem. Nada mal para um filme-pipoca!
Filmes, filmes e mais filmes. De todos os gêneros, países, épocas e níveis de qualidade.
sexta-feira
quinta-feira
FLORENCE: QUEM É ESSA MULHER?
FLORENCE: QUEM É ESSA MULHER? (Florence Foster Jenkins, 2016, Qwerthy Films/Pathé Pictures International/BBC Films, 111min) Direção: Stephen Frears. Roteiro: Nicholas Martin. Fotografia: Danny Cohen. Montagem: Valerio Bonelli. Música: Alexandre Desplat. Figurino: Consolata Boyle. Direção de arte/cenários: Alan MacDonald/Caroline Smith. Produção executiva: Christine Langan, Cameron McCracken, Malcolm Ritchie. Produção: Michael Kuhn, Tracey Seaward. Elenco: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend. Estreia: 23/4/16 (Festival de Belfast)
2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Figurino
Em 1994, o cineasta Tim Burton retratou, em seu sublime "Ed Wood", a história de um diretor de cinema cuja paixão pela arte era tamanha que o impedia de perceber a absoluta falta de qualidade de seus filmes - e que, após a sua morte, passou a ser considerado unanimemente como "o pior diretor da história do cinema". A história de Florence Foster Jenkins - socialite nova-iorquina que virou tema de uma produção do inglês Stephen Frears - pode não ser exatamente igual, por questões econômicas, sociais e pela diferença no objeto da paixão, mas tem suas similaridades. Incapaz de perceber a si mesma como uma péssima cantora lírica (sendo que péssima, no caso, é eufemismo), Jenkins usava seu dinheiro para financiar compositores e saraus em uma Nova York ainda sofrendo com a II Guerra Mundial - e, de quebra, se autopromovia em pequenas apresentações e até mesmo em disco. Objeto de adoração por amigos e de deboche quase explícito por quem a conhecia somente através de seu suposto dom, ela chegou a lotar o Carnegie Hall, em um show para o qual distribuiu mil convites para soldados americanos. A música era seu grande amor - assim como o marido mais jovem, St. Clair Bayfield - e essa relação íntima e feliz é o tema de "Florence: quem é essa mulher?", comédia dramática que rendeu à Meryl Streep a vigésima indicação ao Oscar de sua carreira, uma marca impressionante que não comprova apenas seu imenso talento mas também o prestígio gigantesco dentro da indústria hollywoodiana.
Exercitando sua veia cômica ao mesmo tempo em que encontra o tom dramático certo para os momentos mais emocionantes de sua personagem, Streep faz uso também de seu vasto carisma para compor uma Florence que transita sem descanso entre o naturalismo e a quase caricatura. Esse equilíbrio - que já vem no roteiro fluido de Nicholas Martin - esbarra apenas na direção um tanto pesada de Stephen Frears. Veterano com duas indicações ao Oscar no currículo - por "Os imorais" (1990) e "A rainha" (2006) - e eclético por natureza, a ponto de adaptar escritores tão díspares quanto Chorderlos de Laclos (em "Ligações perigosas", de 1988) e Nick Hornby (em "Alta fidelidade", de 2000), Frears parece não saber exatamente se prefere imprimir um tom de pastiche à trajetória da protagonista ou concentrar-se em seus dramas particulares (como a sífilis adquirida no primeiro casamento e a relação aberta com o segundo marido). Essa dubiedade - talvez proposital - acaba por dificultar uma entrega completa do público, que gargalha facilmente com o timing cômico perfeito de Streep mas estranha quando a trama escorrega, sem aviso prévio, para o dramalhão. Sorte que Frears sabe escolher seus colaboradores como ninguém, e "Florence: quem é essa mulher?" é exemplar em cada um de seus quesitos.
A reconstituição de época - dos cenários sofisticados ao figurino de Consolata Boyle, copiado das extravagantes roupas da personagem-título, também indicado ao Oscar - é primorosa: a Nova York dos anos 40 é retratada com riqueza de detalhes e um requinte que poderia tranquilamente uma outra nomeação à estatueta dourada. A trilha sonora de Alexandre Desplat faz-se notar apenas quando necessário, deixando que as óperas amadas por Florence ilustrem com mais frequência sua trajetória. E a fotografia acinzentada sublinha a opressão dos anos de guerra, situando a narrativa em um período histórico bastante específico, em que nem mesmo a beleza da música e da arte eram suficientes para fazer esquecer o sangrento conflito na Europa. A atmosfera de festa da alta sociedade em que circula Florence e seus amigos contrasta com a dureza do front - que só chega até eles pelo rádio e pela presença constante de soldados (objetos de admiração e caridade por parte da socialite, que nem por isso deixava de ser alvo de seus comentários debochados). O clímax do filme - o concerto de Florence no Carnegie Hall - é representativo: estão na plateia a alta sociedade nova-iorquina, celebridades (a atriz Tallulah Bankhead, o compositor Cole Porter) e o povo (representado pelos soldados), e no palco, a diva de meia-idade sem noção de sua falta de talento e seu fiel escudeiro, o desajeitado porém competente Cosmé McMoon (Simon Helberg, da série "The Big Bang Theory", e indicado ao Golden Globe de ator coadjuvante). É um encontro e tanto, resumido na declaração da vulgar e emergente Agnes Stark (Nina Arianda): "Não riam! Ela está cantando com o coração!".
Essa grande mensagem do filme - a de que a paixão e o amor podem ser mais importantes que o talento e a afinação - é que faz de "Florence" uma obra tão simpática e calorosa (apesar de estar longe de ser um dos melhores trabalhos de seu diretor). É difícil não se deixar conquistar pela personagem principal, por sua química com o marido adúltero porém carinhoso (que marcou a volta de Hugh Grant ao cinema e lhe rendeu uma indicação ao Golden Globe) e sua relação com o novato Cosmé, a princípio abismado com o fato de ninguém falar a verdade à sua nova patroa mas logo envolvido por seu sentimento de absoluta devoção à música. A interrelação entre os três personagens centrais é o que há de melhor no filme de Stephen Frears - uma conexão impecável que o torna agradável e encantador a ponto de ter seus pecadilhos deixados de lado. Um belo e descompromissado entretenimento!
2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Figurino
Em 1994, o cineasta Tim Burton retratou, em seu sublime "Ed Wood", a história de um diretor de cinema cuja paixão pela arte era tamanha que o impedia de perceber a absoluta falta de qualidade de seus filmes - e que, após a sua morte, passou a ser considerado unanimemente como "o pior diretor da história do cinema". A história de Florence Foster Jenkins - socialite nova-iorquina que virou tema de uma produção do inglês Stephen Frears - pode não ser exatamente igual, por questões econômicas, sociais e pela diferença no objeto da paixão, mas tem suas similaridades. Incapaz de perceber a si mesma como uma péssima cantora lírica (sendo que péssima, no caso, é eufemismo), Jenkins usava seu dinheiro para financiar compositores e saraus em uma Nova York ainda sofrendo com a II Guerra Mundial - e, de quebra, se autopromovia em pequenas apresentações e até mesmo em disco. Objeto de adoração por amigos e de deboche quase explícito por quem a conhecia somente através de seu suposto dom, ela chegou a lotar o Carnegie Hall, em um show para o qual distribuiu mil convites para soldados americanos. A música era seu grande amor - assim como o marido mais jovem, St. Clair Bayfield - e essa relação íntima e feliz é o tema de "Florence: quem é essa mulher?", comédia dramática que rendeu à Meryl Streep a vigésima indicação ao Oscar de sua carreira, uma marca impressionante que não comprova apenas seu imenso talento mas também o prestígio gigantesco dentro da indústria hollywoodiana.
Exercitando sua veia cômica ao mesmo tempo em que encontra o tom dramático certo para os momentos mais emocionantes de sua personagem, Streep faz uso também de seu vasto carisma para compor uma Florence que transita sem descanso entre o naturalismo e a quase caricatura. Esse equilíbrio - que já vem no roteiro fluido de Nicholas Martin - esbarra apenas na direção um tanto pesada de Stephen Frears. Veterano com duas indicações ao Oscar no currículo - por "Os imorais" (1990) e "A rainha" (2006) - e eclético por natureza, a ponto de adaptar escritores tão díspares quanto Chorderlos de Laclos (em "Ligações perigosas", de 1988) e Nick Hornby (em "Alta fidelidade", de 2000), Frears parece não saber exatamente se prefere imprimir um tom de pastiche à trajetória da protagonista ou concentrar-se em seus dramas particulares (como a sífilis adquirida no primeiro casamento e a relação aberta com o segundo marido). Essa dubiedade - talvez proposital - acaba por dificultar uma entrega completa do público, que gargalha facilmente com o timing cômico perfeito de Streep mas estranha quando a trama escorrega, sem aviso prévio, para o dramalhão. Sorte que Frears sabe escolher seus colaboradores como ninguém, e "Florence: quem é essa mulher?" é exemplar em cada um de seus quesitos.
A reconstituição de época - dos cenários sofisticados ao figurino de Consolata Boyle, copiado das extravagantes roupas da personagem-título, também indicado ao Oscar - é primorosa: a Nova York dos anos 40 é retratada com riqueza de detalhes e um requinte que poderia tranquilamente uma outra nomeação à estatueta dourada. A trilha sonora de Alexandre Desplat faz-se notar apenas quando necessário, deixando que as óperas amadas por Florence ilustrem com mais frequência sua trajetória. E a fotografia acinzentada sublinha a opressão dos anos de guerra, situando a narrativa em um período histórico bastante específico, em que nem mesmo a beleza da música e da arte eram suficientes para fazer esquecer o sangrento conflito na Europa. A atmosfera de festa da alta sociedade em que circula Florence e seus amigos contrasta com a dureza do front - que só chega até eles pelo rádio e pela presença constante de soldados (objetos de admiração e caridade por parte da socialite, que nem por isso deixava de ser alvo de seus comentários debochados). O clímax do filme - o concerto de Florence no Carnegie Hall - é representativo: estão na plateia a alta sociedade nova-iorquina, celebridades (a atriz Tallulah Bankhead, o compositor Cole Porter) e o povo (representado pelos soldados), e no palco, a diva de meia-idade sem noção de sua falta de talento e seu fiel escudeiro, o desajeitado porém competente Cosmé McMoon (Simon Helberg, da série "The Big Bang Theory", e indicado ao Golden Globe de ator coadjuvante). É um encontro e tanto, resumido na declaração da vulgar e emergente Agnes Stark (Nina Arianda): "Não riam! Ela está cantando com o coração!".
Essa grande mensagem do filme - a de que a paixão e o amor podem ser mais importantes que o talento e a afinação - é que faz de "Florence" uma obra tão simpática e calorosa (apesar de estar longe de ser um dos melhores trabalhos de seu diretor). É difícil não se deixar conquistar pela personagem principal, por sua química com o marido adúltero porém carinhoso (que marcou a volta de Hugh Grant ao cinema e lhe rendeu uma indicação ao Golden Globe) e sua relação com o novato Cosmé, a princípio abismado com o fato de ninguém falar a verdade à sua nova patroa mas logo envolvido por seu sentimento de absoluta devoção à música. A interrelação entre os três personagens centrais é o que há de melhor no filme de Stephen Frears - uma conexão impecável que o torna agradável e encantador a ponto de ter seus pecadilhos deixados de lado. Um belo e descompromissado entretenimento!
quarta-feira
EX-MACHINA: INSTINTO ARTIFICIAL
EX-MACHINA: INSTINTO ARTIFICIAL (Ex Machina, 2014, Universal Pictures International, 108min) Direção e roteiro: Alex Garland. Fotografia: Rob Hardy. Montagem: Mark Day. Música: Geoff Barrow, Ben Salisbury. Figurino: Sammy Sheldon Differ. Direção de arte/cenários: Mark Digby/Michelle Day. Produção executiva: Eli Bush, Tessa Ross, Scott Rudin. Produção: Andrew Macdonald, Allon Reich. Elenco: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno. Estreia: 16/12/14
2 indicações ao Oscar: Roteiro Original, Efeitos Visuais
Vencedor do Oscar de Efeitos Visuais
A cerimônia do Oscar 2016 não foi exatamente surpreendente, com as esperadas vitórias de Leonardo DiCaprio, Brie Larson e "Spotlight: segredos revelados" nas principais categorias e o arrastão proporcionado por "Mad Max: Estrada da fúria". Mas mesmo assim, a Academia sempre guarda um trunfo para não deixar a noite tão previsível e nessa ocasião o susto, em especial para as grandes produções que concorriam ao prêmio de efeitos visuais, foi imenso: concorrendo contra pesos-pesados como "Star Wars: o despertar da força", "Mad Max" e "O regresso" (todos com orçamentos acima dos 150 milhões de dólares), o pequeno "Ex-machina: instinto artificial", com seu custo irrisório de 15 milhões, levou a estatueta e reafirmou sua posição de Davi contra Golias. Pouco visto nos cinemas americanos (ao menos em comparação com seus oponentes diretos) e lançado sem muito alarde, a estreia do roteirista e escritor Alex Garland como cineasta é uma instigante e curiosa fantasia a respeito do alcance da Ciência em um futuro não muito distante. Usando os efeitos especiais como parte integrante da narrativa e não como um espetáculo à parte, o filme envolve a plateia em um jogo de manipulação que só fará sentido completamente nos minutos finais. Ao não subestimar a inteligência do espectador, Garland criou uma pequena pérola, uma ficção científica que tem apelo até mesmo àquele que torcem o nariz em relação ao gênero.
Tudo começa quando o jovem programador Caleb Smith (Domhnall Gleeson, cada vez mais presente nas telas) é escolhido para passar uma semana na propriedade isolada do misterioso e misantropo Nathan Bateman (Oscar Isaac), dono da empresa de informática onde ele trabalha. Introvertido e quase antissocial, o órfão e solitário Caleb ouve do próprio Nathan - um homem tanto excêntrico quanto genial - o motivo de sua visita: o que o milionário deseja é testar o quão longe foi em suas pesquisas a respeito de inteligência artificial. Para isso, apresenta a seu jovem funcionário à bela Ava (Alicia Vikander), um robô com aparência quase humana e inteligência acima da média. Sendo obrigado a dar um parecer depois de apenas algumas sessões a sós com Ava, o desajeitado Caleb acaba se deixando envolver pelo fascínio de estar diante de uma invenção humana e, aos poucos, começa a questionar as reais intenções de Nathan - sendo impelido por Ava a duvidar da honestidade do programa.
Como um jogo de gato e rato engenhoso e brilhantemente executado, "Ex-machina" é fascinante e hipnotizante: cada detalhe da direção de arte minimalista é crucial para o desenvolvimento da trama e suas inteligentes metáforas visuais. Com uma estética clean, quase desprovida de elementos mais elaborados, Garland cria uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém a atenção até o final: as conversas entre Caleb e Ava são um perfeito exemplo da técnica do cineasta novato: ela é a experiência, mas a cada sessão quem mais se percebe preso e confinado é ele. A fotografia de Rob Hardy contribui para o clima opressivo, assim como a trilha sonora quase imperceptível, que enfatiza a solidão dos três protagonistas, cada um afogado em seus próprios dilemas éticos, morais e pessoais - o que inclui até (e principalmente) Ava. Misturando discussões filosóficas a uma trama por si só bastante interessante e questionadora, o roteiro foge do óbvio sempre que parece estar em vias de cair nas armadilhas das produções do gênero, levando o público mais longe do que se poderia supor em seus minutos iniciais. Fazendo uso de seu talento como escritor - é ele o autor do romance "A praia", que deu origem ao filme de Danny Boyle estrelado por Leonardo DiCaprio em 2000 - e merecidamente indicado ao Oscar de roteiro original, Alex Garland brinca com as percepções da plateia, desenvolve com precisão a personalidade de cada um de seus personagens e cria um desfecho poético e quase perturbador.
E se o roteiro e a direção de Alex Garland revelam um cineasta inteligente e sensível, seus atores não poderiam estar melhores. Domhnall Gleeson aos poucos vai traçando um caminho bastante consistente em Hollywood, marcando presença em sucessos de bilheteria e crítica, como "O regresso", "Invencível" - dirigido por Angelina Jolie - e "Anna Karenina" - a versão estrelada por Keira Knightley e Jude Law: seu estilo suave de interpretação cabe como uma luva em Caleb, um jovem desconfortável na própria pele e que se apaixona por uma inteligência artificial. Oscar Isaac - que Madonna praticamente revelou em "W/E: o romance do século" (2011) e depois seguiu um caminho de grande personalidade artística - constrói um Nathan Bateman exótico em seu brilhantismo, isolado e quase paranoico como a maioria dos gênios. E Alicia Vikander - às vésperas de levar um Oscar de coadjuvante por "A garota dinamarquesa" (2015) - seduz a plateia sem dificuldade, em uma atuação que mescla com maestria trejeitos robóticos e humanos e se revela, em seu final, o trabalho mais impressionante do filme. Uma feliz conjunção de fatores - elenco, direção, roteiro, técnica - e despretensão, "Ex-machina: instinto artificial" é um dos mais admiráveis filmes de sua temporada (e uma das melhores ficções científicas da década).
Vencedor do Oscar de Efeitos Visuais
A cerimônia do Oscar 2016 não foi exatamente surpreendente, com as esperadas vitórias de Leonardo DiCaprio, Brie Larson e "Spotlight: segredos revelados" nas principais categorias e o arrastão proporcionado por "Mad Max: Estrada da fúria". Mas mesmo assim, a Academia sempre guarda um trunfo para não deixar a noite tão previsível e nessa ocasião o susto, em especial para as grandes produções que concorriam ao prêmio de efeitos visuais, foi imenso: concorrendo contra pesos-pesados como "Star Wars: o despertar da força", "Mad Max" e "O regresso" (todos com orçamentos acima dos 150 milhões de dólares), o pequeno "Ex-machina: instinto artificial", com seu custo irrisório de 15 milhões, levou a estatueta e reafirmou sua posição de Davi contra Golias. Pouco visto nos cinemas americanos (ao menos em comparação com seus oponentes diretos) e lançado sem muito alarde, a estreia do roteirista e escritor Alex Garland como cineasta é uma instigante e curiosa fantasia a respeito do alcance da Ciência em um futuro não muito distante. Usando os efeitos especiais como parte integrante da narrativa e não como um espetáculo à parte, o filme envolve a plateia em um jogo de manipulação que só fará sentido completamente nos minutos finais. Ao não subestimar a inteligência do espectador, Garland criou uma pequena pérola, uma ficção científica que tem apelo até mesmo àquele que torcem o nariz em relação ao gênero.
Tudo começa quando o jovem programador Caleb Smith (Domhnall Gleeson, cada vez mais presente nas telas) é escolhido para passar uma semana na propriedade isolada do misterioso e misantropo Nathan Bateman (Oscar Isaac), dono da empresa de informática onde ele trabalha. Introvertido e quase antissocial, o órfão e solitário Caleb ouve do próprio Nathan - um homem tanto excêntrico quanto genial - o motivo de sua visita: o que o milionário deseja é testar o quão longe foi em suas pesquisas a respeito de inteligência artificial. Para isso, apresenta a seu jovem funcionário à bela Ava (Alicia Vikander), um robô com aparência quase humana e inteligência acima da média. Sendo obrigado a dar um parecer depois de apenas algumas sessões a sós com Ava, o desajeitado Caleb acaba se deixando envolver pelo fascínio de estar diante de uma invenção humana e, aos poucos, começa a questionar as reais intenções de Nathan - sendo impelido por Ava a duvidar da honestidade do programa.
Como um jogo de gato e rato engenhoso e brilhantemente executado, "Ex-machina" é fascinante e hipnotizante: cada detalhe da direção de arte minimalista é crucial para o desenvolvimento da trama e suas inteligentes metáforas visuais. Com uma estética clean, quase desprovida de elementos mais elaborados, Garland cria uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém a atenção até o final: as conversas entre Caleb e Ava são um perfeito exemplo da técnica do cineasta novato: ela é a experiência, mas a cada sessão quem mais se percebe preso e confinado é ele. A fotografia de Rob Hardy contribui para o clima opressivo, assim como a trilha sonora quase imperceptível, que enfatiza a solidão dos três protagonistas, cada um afogado em seus próprios dilemas éticos, morais e pessoais - o que inclui até (e principalmente) Ava. Misturando discussões filosóficas a uma trama por si só bastante interessante e questionadora, o roteiro foge do óbvio sempre que parece estar em vias de cair nas armadilhas das produções do gênero, levando o público mais longe do que se poderia supor em seus minutos iniciais. Fazendo uso de seu talento como escritor - é ele o autor do romance "A praia", que deu origem ao filme de Danny Boyle estrelado por Leonardo DiCaprio em 2000 - e merecidamente indicado ao Oscar de roteiro original, Alex Garland brinca com as percepções da plateia, desenvolve com precisão a personalidade de cada um de seus personagens e cria um desfecho poético e quase perturbador.
E se o roteiro e a direção de Alex Garland revelam um cineasta inteligente e sensível, seus atores não poderiam estar melhores. Domhnall Gleeson aos poucos vai traçando um caminho bastante consistente em Hollywood, marcando presença em sucessos de bilheteria e crítica, como "O regresso", "Invencível" - dirigido por Angelina Jolie - e "Anna Karenina" - a versão estrelada por Keira Knightley e Jude Law: seu estilo suave de interpretação cabe como uma luva em Caleb, um jovem desconfortável na própria pele e que se apaixona por uma inteligência artificial. Oscar Isaac - que Madonna praticamente revelou em "W/E: o romance do século" (2011) e depois seguiu um caminho de grande personalidade artística - constrói um Nathan Bateman exótico em seu brilhantismo, isolado e quase paranoico como a maioria dos gênios. E Alicia Vikander - às vésperas de levar um Oscar de coadjuvante por "A garota dinamarquesa" (2015) - seduz a plateia sem dificuldade, em uma atuação que mescla com maestria trejeitos robóticos e humanos e se revela, em seu final, o trabalho mais impressionante do filme. Uma feliz conjunção de fatores - elenco, direção, roteiro, técnica - e despretensão, "Ex-machina: instinto artificial" é um dos mais admiráveis filmes de sua temporada (e uma das melhores ficções científicas da década).
terça-feira
EU, DANIEL BLAKE
EU, DANIEL BLAKE (I, Daniel Blake, 2016, Sixteen Films/Why Not Productions/Wild Bunch, 100min) Direção: Ken Loach. Roteiro: Paul Laverty. Fotografia: Robbie Ryan. Montagem: Jonathan Morris. Música: George Fenton. Figurino: Joanne Slater. Direção de arte/cenários: Fergus Clegg, Linda Wilson. Produção executiva: Pascal Caucheteux, Philippe Logie, Vincent Maraval, Grégoire Sorlat. Produção: Rebecca O'Brien. Elenco: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan McKiernan, Kate Rutter. Estreia: 13/5/16 (Festival de Cannes)
Vencedor da Palma de Ouro (Melhor Filme) no Festival de Cannes
Alguns filmes tem o dom da concisão e da simplicidade. E um dos cineastas mais felizes em casar esses dois elementos tão raros quanto importantes é o inglês Ken Loach: em uma carreira que já atravessa quatro décadas e que conta com mais de cinquenta títulos entre cinema e televisão, sua filmografia é recheada de produções que se destacam pela objetividade narrativa e pela temática política e social. Esse viés é nitidamente perceptível até para quem nunca assistiu a nenhum de seus filmes e dá de cara com "Eu, Daniel Blake", que lhe rendeu uma segunda Palma de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes 2016 (a primeira chegou dez anos antes, com "Ventos da liberdade"): mesmo sem forçar a mão em seu discurso contra a burocracia que esmaga o indivíduo, o roteiro de Paul Laverty é um grito de rebeldia em direção ao governo britânico e - por que não? - a todos aqueles que privilegiam rituais desumanos em detrimento das pessoas que acabam por tornarem-se suas vítimas. Dono de uma sobriedade exemplar e de um senso de foco acima do normal, o filme de Loach conquista o público justamente por sua despretensão estilística: é quase um documentário, seco e sem firulas visuais, com protagonistas tão vívidos que poderiam morar na casa ao lado de qualquer um da plateia - principalmente porque são interpretados por atores desconhecidos, o que lhes dá ainda mais veracidade.
Em uma impressionante estreia no cinema, Dave Johns vive o personagem-título, um viúvo de 59 anos que está se recuperando de um ataque cardíaco e experimentando o amargo sabor da cruel e idiossincrática burocracia do serviço social britânico. Depois de anos trabalhando como carpinteiro, ele pretende voltar ao serviço mas é impedido por seus médicos, que insistem que ele deve manter-se em repouso. Sua única alternativa é recorrer ao auxílio-desemprego - mas, para isso, ele precisa comprovar que está em busca de trabalho, uma vez que, segundo os critérios médicos do governo, ele não atinge a pontuação necessária para convencê-los de que está doente. Preso a esse impasse, Blake passa por uma via-crúcis de repartições públicas, tentando de todas as maneiras convencer a quem for preciso de que, sem o auxílio e sem emprego, ele não tem como sobreviver. De natureza generosa e afável, ele se aproxima de Katie (Hayley Squires), uma jovem mãe de solteira que tenta sustentar os dois filhos pequenos com serviços de faxina, e uma bela e descompromissada amizade surge entre eles. No fundo, ambos são pessoas comuns lutando pela sobrevivência em uma sociedade opressora e robótica.
Com um diálogo direto e sem firulas com a plateia, Ken Loach se aproveita do carisma de seu ator central e da ressonância fortemente política e social de sua trama para conquistar o espectador pela emoção mais primária. Identificada com as dificuldades do personagem e cativado por sua simpatia e simplicidade, a plateia se deixa envolver sem dificuldades pela história de Blake - que também esbarra em seu relacionamento impossível com a tecnologia e a solidão com o sempre delicioso senso de humor britânico, que não deixa que o filme mergulhe na melancolia e no pessimismo radical. Acertando no ponto entre o riso sutil e o drama discreto, Dave Johns cria um Daniel Blake com o qual é impossível não simpatizar, seja devido à sua situação ou por sua personalidade resiliente e altruísta. Sua química com Hayley Squires é brilhante, assim como com os atores mirins que vivem os filhos de Katie - encantadores sem buscar o apelo fácil dos gênios precoces. Mais uma vez demonstrando seu enorme talento como diretor de atores, Loach apresenta cenas de uma naturalidade tão extrema que é difícil não se deixar conquistar.
Ovacionado no Festival de Cannes de onde saiu premiado, "Eu, Daniel Blake" foi saudado também como um dos filmes mais importantes do ano, principalmente por causa de seu alto teor de questionamentos sociais em um período tão crítico da história da Inglaterra - e de muitos outros países atravessando graves crises. Sem apontar soluções fáceis, Loach apenas aponta sua câmera para uma história banal e aparentemente simples e deixa que seus personagens a contem, com um frescor e uma inteligência ímpares. Não é à toa que o filme soa como um documentário - a simplicidade é a palavra de ordem na obra do cineasta, e aqui ele vai fundo em seus princípios artísticos, injetando uma alta dose de realismo em seu roteiro e evitando qualquer tipo de excesso (seja em seu discurso ou em sua estética crua e sutil). "Eu, Daniel Blake" é um dos grandes filmes de 2016, daqueles capazes de aquecer o coração e o cérebro dos espectadores. Mais um grande acerto do diretor.
Vencedor da Palma de Ouro (Melhor Filme) no Festival de Cannes
Alguns filmes tem o dom da concisão e da simplicidade. E um dos cineastas mais felizes em casar esses dois elementos tão raros quanto importantes é o inglês Ken Loach: em uma carreira que já atravessa quatro décadas e que conta com mais de cinquenta títulos entre cinema e televisão, sua filmografia é recheada de produções que se destacam pela objetividade narrativa e pela temática política e social. Esse viés é nitidamente perceptível até para quem nunca assistiu a nenhum de seus filmes e dá de cara com "Eu, Daniel Blake", que lhe rendeu uma segunda Palma de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes 2016 (a primeira chegou dez anos antes, com "Ventos da liberdade"): mesmo sem forçar a mão em seu discurso contra a burocracia que esmaga o indivíduo, o roteiro de Paul Laverty é um grito de rebeldia em direção ao governo britânico e - por que não? - a todos aqueles que privilegiam rituais desumanos em detrimento das pessoas que acabam por tornarem-se suas vítimas. Dono de uma sobriedade exemplar e de um senso de foco acima do normal, o filme de Loach conquista o público justamente por sua despretensão estilística: é quase um documentário, seco e sem firulas visuais, com protagonistas tão vívidos que poderiam morar na casa ao lado de qualquer um da plateia - principalmente porque são interpretados por atores desconhecidos, o que lhes dá ainda mais veracidade.
Em uma impressionante estreia no cinema, Dave Johns vive o personagem-título, um viúvo de 59 anos que está se recuperando de um ataque cardíaco e experimentando o amargo sabor da cruel e idiossincrática burocracia do serviço social britânico. Depois de anos trabalhando como carpinteiro, ele pretende voltar ao serviço mas é impedido por seus médicos, que insistem que ele deve manter-se em repouso. Sua única alternativa é recorrer ao auxílio-desemprego - mas, para isso, ele precisa comprovar que está em busca de trabalho, uma vez que, segundo os critérios médicos do governo, ele não atinge a pontuação necessária para convencê-los de que está doente. Preso a esse impasse, Blake passa por uma via-crúcis de repartições públicas, tentando de todas as maneiras convencer a quem for preciso de que, sem o auxílio e sem emprego, ele não tem como sobreviver. De natureza generosa e afável, ele se aproxima de Katie (Hayley Squires), uma jovem mãe de solteira que tenta sustentar os dois filhos pequenos com serviços de faxina, e uma bela e descompromissada amizade surge entre eles. No fundo, ambos são pessoas comuns lutando pela sobrevivência em uma sociedade opressora e robótica.
Com um diálogo direto e sem firulas com a plateia, Ken Loach se aproveita do carisma de seu ator central e da ressonância fortemente política e social de sua trama para conquistar o espectador pela emoção mais primária. Identificada com as dificuldades do personagem e cativado por sua simpatia e simplicidade, a plateia se deixa envolver sem dificuldades pela história de Blake - que também esbarra em seu relacionamento impossível com a tecnologia e a solidão com o sempre delicioso senso de humor britânico, que não deixa que o filme mergulhe na melancolia e no pessimismo radical. Acertando no ponto entre o riso sutil e o drama discreto, Dave Johns cria um Daniel Blake com o qual é impossível não simpatizar, seja devido à sua situação ou por sua personalidade resiliente e altruísta. Sua química com Hayley Squires é brilhante, assim como com os atores mirins que vivem os filhos de Katie - encantadores sem buscar o apelo fácil dos gênios precoces. Mais uma vez demonstrando seu enorme talento como diretor de atores, Loach apresenta cenas de uma naturalidade tão extrema que é difícil não se deixar conquistar.
Ovacionado no Festival de Cannes de onde saiu premiado, "Eu, Daniel Blake" foi saudado também como um dos filmes mais importantes do ano, principalmente por causa de seu alto teor de questionamentos sociais em um período tão crítico da história da Inglaterra - e de muitos outros países atravessando graves crises. Sem apontar soluções fáceis, Loach apenas aponta sua câmera para uma história banal e aparentemente simples e deixa que seus personagens a contem, com um frescor e uma inteligência ímpares. Não é à toa que o filme soa como um documentário - a simplicidade é a palavra de ordem na obra do cineasta, e aqui ele vai fundo em seus princípios artísticos, injetando uma alta dose de realismo em seu roteiro e evitando qualquer tipo de excesso (seja em seu discurso ou em sua estética crua e sutil). "Eu, Daniel Blake" é um dos grandes filmes de 2016, daqueles capazes de aquecer o coração e o cérebro dos espectadores. Mais um grande acerto do diretor.
segunda-feira
O COLECIONADOR
O COLECIONADOR (The collector, 1965, Columbia Pictures Corporation, 119min) Direção: William Wyler. Roteiro: John Kohn, Stanley Mann, Terry Southern, romance de John Fowles. Fotografia: Robert Krasker, Robert Surtees. Montagem: David Hawkins, Robert Swink. Música: Maurice Jarre. Direção de arte/cenários: John Stoll/Frank Tuttle. Produção: Jud Kinberg, John Kohn. Elenco: Terence Stamp, Samantha Eggar, Mona Washbourne, Maurice Dallimore. Estreia: 05/65 (Festival de Cannes)
3 indicações ao Oscar: Diretor (William Wyler), Atriz (Samantha Eggar), Roteiro Adaptado
Vencedor do Golden Globe: Melhor Atriz/Drama (Samantha Eggar)
Vencedor de 2 Palmas de Ouro/Festival de Cannes: Ator (Terence Stamp), Atriz (Samantha Eggar)
Quem conheceu o ator inglês Terence Stamp apenas em 1994, com a deliciosa comédia australiana "Priscilla, a rainha do deserto" pode demorar a acreditar, mas aquele senhor vestido de mulher e interpretando com propriedade um transexual de meia-idade amargo e mau-humorado já foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Quem duvida pode confirmar o fato em "O colecionador", um dos filmes de suspense mais elogiados da década de 60, que lhe rendeu a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes de 1965: sim, além de símbolo sexual, Stamp também já demonstrava desde então seu talento dramático, em um filme que, apesar de pertencer a um gênero considerado "menor" pela crítica e pela indústria, tornou-se um clássico absoluto e referência para várias gerações de cineastas. Baseado em um romance de John Fowles, "O colecionador" é um claustrofóbico e tenso exercício narrativo, comandado pelo veterano William Wyler - oscarizado por "Ben-hur" (59) - com uma sutileza quase inacreditável. Sem violência gratuita (exceto, lógico, pelo crime que é o centro da trama), é também uma prova de que um bom diretor consegue sair-se bem em qualquer gênero - e até romper uma certa aura de preconceito em relação a alguns deles. Além do prêmio de melhor ator para Terence Stamp, os jurados do Festival de Cannes também acharam justo dar a Palma de melhor atriz à sua parceira de cena, Samantha Eggar, que além disso foi aclamada com um Golden Globe e uma indicação ao Oscar. Nada mal para um tipo de filme normalmente relegado a segundo plano nas cerimônias de premiação.
Referência direta de obras como "Misery", de Stephen King - que foi adaptado para o cinema como "Louca obsessão" e deu uma merecidíssima estatueta dourada para Kathy Bates em 1991 - e aplaudido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar como um filme "perfeito sob o ponto de vista de direção", "O colecionador" resiste ao tempo mesmo diante de um visual tipicamente sessentista, enfatizado pela fotografia de cores discretas e pelo ritmo que evita a pressa e conquista o público de forma gradual e envolvente. Centrado basicamente na relação entre seus dois protagonistas, o roteiro praticamente inexiste fora das quatro paredes que os cercam, e essa claustrofobia se torna um dos maiores trunfos de Wyler, que arranca de seus atores atuações inesquecíveis e complexas - mérito também da inteligência em optar por um caminho de suspense psicológico em detrimento de sustos ou violência explícita. Quem espera de "O colecionador" mais um exemplar de suspense fácil e barato certamente irá se desapontar. No entanto, quem busca um estudo mais sério sobre as nuances de uma obsessão não terá do que reclamar.
Freddie Clegg (Terence Stamp) é um colecionador obsessivo de borboletas que tem a vida mudada quando ganha um prêmio da loteria. Abandonando seu prêmio como bancário, ele compra uma propriedade isolada do centro de Londres e resolve por em prática um plano ousado: sequestrar a bela estudante de Artes Plásticas Miranda Grey (Samantha Eggar), por quem ele nutre uma paixão silenciosa e antiga. Sem intenções de abusar sexualmente dela ou ao menos pedir dinheiro em troca de sua liberdade, Clegg surpreende sua refém com um comportamento quase gentil, e garante que seu cativeiro tem um prazo limite. Assim que percebe que seu raptor não segue o padrão comum, Miranda inicia com ele um jogo de poder, tentando estabelecer uma dinâmica que os faça conviver pacificamente. O que ela não nota é que sua presença no casarão é apenas uma experiência: Clegg quer ter sobre ela o mesmo controle que tem sobre suas borboletas, e dificilmente se deixará enganar pelas jogadas maquiavélicas da jovem, que se utiliza da beleza e da sedução como armas de convencimento.
Planejado para ser realizado em preto-e-branco (o que certamente aumentaria a sensação de desconforto da protagonista), "O colecionador" chegou às telas com algumas diferenças essenciais em relação ao que William Wyler desejava. A escolha de Samantha Eggar, por exemplo, apesar de providencial e unanimemente aplaudida pela crítica, só foi possível depois que Natalie Wood, Julie
Christie e Sarah Miles recusaram o papel - e Eggar não pode dizer que teve um período muito agradável durante as filmagens, já que era tratada com extrema frieza por seu colega de cena. Stamp, seguindo recomendações do diretor, mal dirigia a palavra à atriz, não interagia com ela fora das filmagens e a tratava sem muitas gentilezas. A tática, apesar de um tanto cruel, funcionou: existe uma tensão palpável entre os dois personagens principais, sempre no tênue limite entre o medo e a fascinação. A sutil trilha sonora é do aclamado Maurice Jarre, que substituiu a escolha inicial (Bernard Herrmann) porque Wyler não queria que o músico, colaborador habitual de Alfred Hitchcock, trouxesse influências do cineasta inglês ao projeto. E o próprio Wyler não ficou nem um pouco feliz com a ideia de diminuir as três horas de duração da metragem inicial para 119 minutos - um corte que arrancou do filme uma trama paralela inteira que envolveria um namorado de Miranda, interpretado por Kenneth More.
O fato de que "O colecionador" tornou-se um ícone do suspense com o passar das décadas é uma prova da capacidade de Wyler em contar sua história de forma envolvente e atemporal. Porém, como nem tudo são flores e o cinema é constantemente acusado de incentivar a violência, um serial killer norte-americano chamado Bob Berdella, que matou pelo menos seis jovens no período de 1984-1987, depois de estuprá-los e torturá-los, assumiu que uma de suas inspirações foi a história de Freddie Clegg. Mesmo com as grandes diferenças entre a obra de ficção e a realidade - sendo a realidade muito mais cruel e chocante - não deixa de ser, a seu modo um tanto torto, uma prova a mais da perenidade do filme. Um clássico ainda muito interessante e perturbador (em especial por seu desfecho inesperado), "O colecionador" permanece como um dos grandes filmes de William Wyler - e um dos exemplares mais coesos de um gênero pouco afeito à posteridade.
3 indicações ao Oscar: Diretor (William Wyler), Atriz (Samantha Eggar), Roteiro Adaptado
Vencedor do Golden Globe: Melhor Atriz/Drama (Samantha Eggar)
Vencedor de 2 Palmas de Ouro/Festival de Cannes: Ator (Terence Stamp), Atriz (Samantha Eggar)
Quem conheceu o ator inglês Terence Stamp apenas em 1994, com a deliciosa comédia australiana "Priscilla, a rainha do deserto" pode demorar a acreditar, mas aquele senhor vestido de mulher e interpretando com propriedade um transexual de meia-idade amargo e mau-humorado já foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Quem duvida pode confirmar o fato em "O colecionador", um dos filmes de suspense mais elogiados da década de 60, que lhe rendeu a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes de 1965: sim, além de símbolo sexual, Stamp também já demonstrava desde então seu talento dramático, em um filme que, apesar de pertencer a um gênero considerado "menor" pela crítica e pela indústria, tornou-se um clássico absoluto e referência para várias gerações de cineastas. Baseado em um romance de John Fowles, "O colecionador" é um claustrofóbico e tenso exercício narrativo, comandado pelo veterano William Wyler - oscarizado por "Ben-hur" (59) - com uma sutileza quase inacreditável. Sem violência gratuita (exceto, lógico, pelo crime que é o centro da trama), é também uma prova de que um bom diretor consegue sair-se bem em qualquer gênero - e até romper uma certa aura de preconceito em relação a alguns deles. Além do prêmio de melhor ator para Terence Stamp, os jurados do Festival de Cannes também acharam justo dar a Palma de melhor atriz à sua parceira de cena, Samantha Eggar, que além disso foi aclamada com um Golden Globe e uma indicação ao Oscar. Nada mal para um tipo de filme normalmente relegado a segundo plano nas cerimônias de premiação.
Referência direta de obras como "Misery", de Stephen King - que foi adaptado para o cinema como "Louca obsessão" e deu uma merecidíssima estatueta dourada para Kathy Bates em 1991 - e aplaudido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar como um filme "perfeito sob o ponto de vista de direção", "O colecionador" resiste ao tempo mesmo diante de um visual tipicamente sessentista, enfatizado pela fotografia de cores discretas e pelo ritmo que evita a pressa e conquista o público de forma gradual e envolvente. Centrado basicamente na relação entre seus dois protagonistas, o roteiro praticamente inexiste fora das quatro paredes que os cercam, e essa claustrofobia se torna um dos maiores trunfos de Wyler, que arranca de seus atores atuações inesquecíveis e complexas - mérito também da inteligência em optar por um caminho de suspense psicológico em detrimento de sustos ou violência explícita. Quem espera de "O colecionador" mais um exemplar de suspense fácil e barato certamente irá se desapontar. No entanto, quem busca um estudo mais sério sobre as nuances de uma obsessão não terá do que reclamar.
Freddie Clegg (Terence Stamp) é um colecionador obsessivo de borboletas que tem a vida mudada quando ganha um prêmio da loteria. Abandonando seu prêmio como bancário, ele compra uma propriedade isolada do centro de Londres e resolve por em prática um plano ousado: sequestrar a bela estudante de Artes Plásticas Miranda Grey (Samantha Eggar), por quem ele nutre uma paixão silenciosa e antiga. Sem intenções de abusar sexualmente dela ou ao menos pedir dinheiro em troca de sua liberdade, Clegg surpreende sua refém com um comportamento quase gentil, e garante que seu cativeiro tem um prazo limite. Assim que percebe que seu raptor não segue o padrão comum, Miranda inicia com ele um jogo de poder, tentando estabelecer uma dinâmica que os faça conviver pacificamente. O que ela não nota é que sua presença no casarão é apenas uma experiência: Clegg quer ter sobre ela o mesmo controle que tem sobre suas borboletas, e dificilmente se deixará enganar pelas jogadas maquiavélicas da jovem, que se utiliza da beleza e da sedução como armas de convencimento.
Planejado para ser realizado em preto-e-branco (o que certamente aumentaria a sensação de desconforto da protagonista), "O colecionador" chegou às telas com algumas diferenças essenciais em relação ao que William Wyler desejava. A escolha de Samantha Eggar, por exemplo, apesar de providencial e unanimemente aplaudida pela crítica, só foi possível depois que Natalie Wood, Julie
Christie e Sarah Miles recusaram o papel - e Eggar não pode dizer que teve um período muito agradável durante as filmagens, já que era tratada com extrema frieza por seu colega de cena. Stamp, seguindo recomendações do diretor, mal dirigia a palavra à atriz, não interagia com ela fora das filmagens e a tratava sem muitas gentilezas. A tática, apesar de um tanto cruel, funcionou: existe uma tensão palpável entre os dois personagens principais, sempre no tênue limite entre o medo e a fascinação. A sutil trilha sonora é do aclamado Maurice Jarre, que substituiu a escolha inicial (Bernard Herrmann) porque Wyler não queria que o músico, colaborador habitual de Alfred Hitchcock, trouxesse influências do cineasta inglês ao projeto. E o próprio Wyler não ficou nem um pouco feliz com a ideia de diminuir as três horas de duração da metragem inicial para 119 minutos - um corte que arrancou do filme uma trama paralela inteira que envolveria um namorado de Miranda, interpretado por Kenneth More.
O fato de que "O colecionador" tornou-se um ícone do suspense com o passar das décadas é uma prova da capacidade de Wyler em contar sua história de forma envolvente e atemporal. Porém, como nem tudo são flores e o cinema é constantemente acusado de incentivar a violência, um serial killer norte-americano chamado Bob Berdella, que matou pelo menos seis jovens no período de 1984-1987, depois de estuprá-los e torturá-los, assumiu que uma de suas inspirações foi a história de Freddie Clegg. Mesmo com as grandes diferenças entre a obra de ficção e a realidade - sendo a realidade muito mais cruel e chocante - não deixa de ser, a seu modo um tanto torto, uma prova a mais da perenidade do filme. Um clássico ainda muito interessante e perturbador (em especial por seu desfecho inesperado), "O colecionador" permanece como um dos grandes filmes de William Wyler - e um dos exemplares mais coesos de um gênero pouco afeito à posteridade.
domingo
UM CRIME AMERICANO
UM CRIME AMERICANO (An american crime, 2007, First Look Entertainment/Killer Films, 98min) Direção: Tommy O'Haver. Roteiro: Tommy O'Haver, Irene Turner. Fotografia: Byron Shah. Montagem: Melissa Kent. Música: Alan Lazar. Figurino: Alix Hester. Direção de arte/cenários: Nathan Amondson/Lisa Alkofer. Produção executiva: Pamela Koffler, Richard Shore, Ruth Vitale, John Wells. Produção: Katie Roumel, Kevin Turen, Christine Vachon, Henry Winterstern. Elenco: Ellen Page, Catherine Keener, James Franco, Bradley Whitford, Hayley McFarland, Nick Searcy, Ari Graynor, Evan Peters. Estreia: 19/01/07 (Festival de Sundance)
No começo dos anos 80 já havia uma movimentação entre os produtores de Hollywood para levar às telas a trágica e inacreditável história da jovem Sylvia Likens - um projeto abortado pela recusa de sua irmã, Jennie, em reviver tal pesadelo. A morte de Jennie em 2004, no entanto, reacendeu o desejo de Hollywood na ideia de transformar em arte um dos mais repugnantes crimes acontecidos nos EUA e, segundo o procurador público do caso, o mais terrível cometido no estado de Indiana. Conduzido com extrema seriedade e o máximo de fidelidade possível por Tommy O'Haver, experiente em tramas mais leves, como a comédia gay "O beijo hollywoodiano de Billy" (98) e o fantasioso "Uma garota encantada", estrelado por Anne Hathaway, mas novato em explorar o lado mais sombrio do ser humano, "Um crime americano" é um filme que choca, causa revolta e indignação e não é facilmente digerível. Mas é, também, um cruel retrato da maldade humana e de até onde pode chegar a falta de compaixão. Tocando ainda em outros temais polêmicos, como alienação parental e hipocrisia religiosa, o roteiro do diretor e de Irene Turner facilmente ultrapassa a definição de drama para adentrar sem hesitação no terreno do suspense psicológico mais perturbador - contando, para isso, com atuações assombrosas de Ellen Page e Catherine Keener.
A trama começa em 1965, quando duas adolescentes, Sylvia (Ellen Page) e Jennie Likens (Hayley McFarland) são deixadas por seus pais, artistas de circo, na casa da praticamente desconhecida Gertrude Baniszewski (Catherine Keener) - mãe de seis filhos que se oferece para cuidar das meninas por um tempo mediante o pagamento de vinte dólares por semana. Aceitando a generosa oferta como forma de viajarem e tentarem consertar um casamento em crise, Lester (Nick Searcy) e Betty (Romy Rosemont) partem, confiando nos talentos de Gertrude como mãe e dona-de-casa. O que eles não sabem, porém, é que ela não é tão perfeita como parece: doente crônica e com uma vida amorosa no mínimo complicada - com romances com homens mais jovens que a exploram financeiramente - a extremosa mãe na verdade é uma mulher à beira de um ataque de nervos - o que fica evidente quando o primeiro pagamento dos Likens chega atrasado e ela surra violentamente as duas hóspedes. A situação vai se complicando quando sua filha mais velha, Paula (Ari Grainor), se descobre grávida do namorado casado e, para desviar a atenção, acusa Sylvia de inventar rumores a seu respeito. Dotada de uma fúria incontrolável, Gertrude inicia uma série de cruéis sessões de tortura com a menina, envolvendo nisso não apenas todos os seus filhos mas também alguns jovens da vizinhança - que passam a visitar Sylvia como se fosse um animal do zoológico e participar dos atos de violência, que incluem abuso sexual, agressões físicas e até uma tatuagem feita com ferro quente.
Não é uma história fácil de contar e muito menos agradável, mas é louvável como o cineasta consegue fugir da morbidez excessiva e dos exageros de uma narrativa gráfica demais. Mesmo sem amenizar o sofrimento de Sylvia - que, segundo consta nos autos do processo, que inspiraram o roteiro, foi ainda mais profundo - O'Haver poupa a plateia o máximo possível, preferindo construir um clima de claustrofobia e injustiça acima da necessidade de explicitar com imagens o tamanho das barbaridades impostas à jovem protagonista. Sugerindo mais do que mostrando, o diretor atinge um nível ainda maior de tensão e desespero, convidando cada um dos espectadores a mergulhar em um mundo repleto de crueldade que só não é completamente inacreditável porque realmente aconteceu. Sem tentar dourar a pílula ou justificar os atos de Gertrude ao culpar seus problemas emocionais e financeiros como principal responsável pela tragédia, o roteiro consegue ainda assim dar um certo ar humano à odiosa personagem, principalmente por contar com a presença de Catherine Keener no papel: evitando a compaixão fácil ou a monstruosidade gratuita, a atriz duas vezes indicada ao Oscar de coadjuvante - por "Quero ser John Malkovich" (99) e "Capote" (2005) - apavora só de aparecer na tela, com seu olhar frio e jeito calmo de falar, que contrastam com o turbilhão de sua mente. Ellen Page não fica atrás: sua Sylvia é de uma fragilidade de porcelana, o que torna tudo ainda mais imperdoável e inexplicável - a não ser quando se leva em conta que a jovem talvez tenha sido vítima justamente por ser jovem, bonita e livre, coisas que sua mãe postiça não mais era capaz de ser.
Contando em um acertado tom de drama familiar que vai se transformando aos poucos em um pesadelo de tons acentuadamente mais fortes a cada cena, "Um crime americano" peca apenas por sua falta de ousadia visual: com uma fotografia discreta quase ao ponto da invisibilidade e uma reconstituição de época cuidadosa mas igualmente simples, o filme de O'Haver parece concentrar seu foco exclusivamente em sua trama, sem preocupar-se muito com a forma. Por vezes, seu filme parece mais uma obra realizada para a televisão do que para o cinema - culpa também da estrutura narrativa, que se utiliza do julgamento de Gertrude como ponto de apoio para uma série de flashbacks que vai, então, elucidando de forma didática os acontecimentos brutais que chocaram o país na década de 60. Amparado no trabalho iluminado de suas atrizes e de seu elenco coadjuvante - em que aparecem também James Franco como um dos namorados exploradores da mãe solteira e Evan Peters (da série "American Horror Story") como um vizinho gorducho e romanticamente interessado em Sylvia até o ponto em que o interesse se transforma em revolta - "Um crime americano" é pesado e denso, mas revela um lado obscuro do ser humano que incomoda e perturba a qualquer espectador. Um belo trabalho!
No começo dos anos 80 já havia uma movimentação entre os produtores de Hollywood para levar às telas a trágica e inacreditável história da jovem Sylvia Likens - um projeto abortado pela recusa de sua irmã, Jennie, em reviver tal pesadelo. A morte de Jennie em 2004, no entanto, reacendeu o desejo de Hollywood na ideia de transformar em arte um dos mais repugnantes crimes acontecidos nos EUA e, segundo o procurador público do caso, o mais terrível cometido no estado de Indiana. Conduzido com extrema seriedade e o máximo de fidelidade possível por Tommy O'Haver, experiente em tramas mais leves, como a comédia gay "O beijo hollywoodiano de Billy" (98) e o fantasioso "Uma garota encantada", estrelado por Anne Hathaway, mas novato em explorar o lado mais sombrio do ser humano, "Um crime americano" é um filme que choca, causa revolta e indignação e não é facilmente digerível. Mas é, também, um cruel retrato da maldade humana e de até onde pode chegar a falta de compaixão. Tocando ainda em outros temais polêmicos, como alienação parental e hipocrisia religiosa, o roteiro do diretor e de Irene Turner facilmente ultrapassa a definição de drama para adentrar sem hesitação no terreno do suspense psicológico mais perturbador - contando, para isso, com atuações assombrosas de Ellen Page e Catherine Keener.
A trama começa em 1965, quando duas adolescentes, Sylvia (Ellen Page) e Jennie Likens (Hayley McFarland) são deixadas por seus pais, artistas de circo, na casa da praticamente desconhecida Gertrude Baniszewski (Catherine Keener) - mãe de seis filhos que se oferece para cuidar das meninas por um tempo mediante o pagamento de vinte dólares por semana. Aceitando a generosa oferta como forma de viajarem e tentarem consertar um casamento em crise, Lester (Nick Searcy) e Betty (Romy Rosemont) partem, confiando nos talentos de Gertrude como mãe e dona-de-casa. O que eles não sabem, porém, é que ela não é tão perfeita como parece: doente crônica e com uma vida amorosa no mínimo complicada - com romances com homens mais jovens que a exploram financeiramente - a extremosa mãe na verdade é uma mulher à beira de um ataque de nervos - o que fica evidente quando o primeiro pagamento dos Likens chega atrasado e ela surra violentamente as duas hóspedes. A situação vai se complicando quando sua filha mais velha, Paula (Ari Grainor), se descobre grávida do namorado casado e, para desviar a atenção, acusa Sylvia de inventar rumores a seu respeito. Dotada de uma fúria incontrolável, Gertrude inicia uma série de cruéis sessões de tortura com a menina, envolvendo nisso não apenas todos os seus filhos mas também alguns jovens da vizinhança - que passam a visitar Sylvia como se fosse um animal do zoológico e participar dos atos de violência, que incluem abuso sexual, agressões físicas e até uma tatuagem feita com ferro quente.
Não é uma história fácil de contar e muito menos agradável, mas é louvável como o cineasta consegue fugir da morbidez excessiva e dos exageros de uma narrativa gráfica demais. Mesmo sem amenizar o sofrimento de Sylvia - que, segundo consta nos autos do processo, que inspiraram o roteiro, foi ainda mais profundo - O'Haver poupa a plateia o máximo possível, preferindo construir um clima de claustrofobia e injustiça acima da necessidade de explicitar com imagens o tamanho das barbaridades impostas à jovem protagonista. Sugerindo mais do que mostrando, o diretor atinge um nível ainda maior de tensão e desespero, convidando cada um dos espectadores a mergulhar em um mundo repleto de crueldade que só não é completamente inacreditável porque realmente aconteceu. Sem tentar dourar a pílula ou justificar os atos de Gertrude ao culpar seus problemas emocionais e financeiros como principal responsável pela tragédia, o roteiro consegue ainda assim dar um certo ar humano à odiosa personagem, principalmente por contar com a presença de Catherine Keener no papel: evitando a compaixão fácil ou a monstruosidade gratuita, a atriz duas vezes indicada ao Oscar de coadjuvante - por "Quero ser John Malkovich" (99) e "Capote" (2005) - apavora só de aparecer na tela, com seu olhar frio e jeito calmo de falar, que contrastam com o turbilhão de sua mente. Ellen Page não fica atrás: sua Sylvia é de uma fragilidade de porcelana, o que torna tudo ainda mais imperdoável e inexplicável - a não ser quando se leva em conta que a jovem talvez tenha sido vítima justamente por ser jovem, bonita e livre, coisas que sua mãe postiça não mais era capaz de ser.
Contando em um acertado tom de drama familiar que vai se transformando aos poucos em um pesadelo de tons acentuadamente mais fortes a cada cena, "Um crime americano" peca apenas por sua falta de ousadia visual: com uma fotografia discreta quase ao ponto da invisibilidade e uma reconstituição de época cuidadosa mas igualmente simples, o filme de O'Haver parece concentrar seu foco exclusivamente em sua trama, sem preocupar-se muito com a forma. Por vezes, seu filme parece mais uma obra realizada para a televisão do que para o cinema - culpa também da estrutura narrativa, que se utiliza do julgamento de Gertrude como ponto de apoio para uma série de flashbacks que vai, então, elucidando de forma didática os acontecimentos brutais que chocaram o país na década de 60. Amparado no trabalho iluminado de suas atrizes e de seu elenco coadjuvante - em que aparecem também James Franco como um dos namorados exploradores da mãe solteira e Evan Peters (da série "American Horror Story") como um vizinho gorducho e romanticamente interessado em Sylvia até o ponto em que o interesse se transforma em revolta - "Um crime americano" é pesado e denso, mas revela um lado obscuro do ser humano que incomoda e perturba a qualquer espectador. Um belo trabalho!
sábado
CONSPIRAÇÃO E PODER
CONSPIRAÇÃO E PODER (Truth, 2015, Sony Pictures Classics, 125min) Direção: James Vanderbilt. Roteiro: James Vanderbilt, livro "Truth and duty: the press. the president, and the privilege of power", de Mary Mapes. Fotografia: Mandy Walker. Montagem: Richard Francis-Bruce. Música: Brian Tyler. Figurino: Amanda Neale. Direção de arte/cenários: Fiona Crombie, Kirk Petruccelli/Glen W. Johnson. Produção executiva: Antonia Barnard, Mikkel Bondesen, James Packer, Steven Silver, Neil Tabatznik. Produção: Bradley J. Fischer, Doug Mankoff, Brett Ratner, William Sherak, Andrew Spaulding, James Vanderbilt. Elenco: Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, Dermot Mulroney. Estreia: 12/9/15 (Festival de Toronto)
O romance entre o cinema e os bastidores do jornalismo já rendeu clássicos inquestionáveis, desde aqueles que defendem a imprensa - "Todos os homens do presidente" (76) - até aqueles que criticam seus abusos - "A montanha dos sete abutres" (57) e "Rede de intrigas" (76). Em 2015, para marcar sua estreia como diretor, o roteirista James Vanderbilt resolveu acrescentar mais um título à primeira lista com "Conspiração e poder", transposição para as telas de uma história real que abalou o telejornalismo norte-americano em 2004 e colocou o então candidato à reeleição George W. Bush diante de um escândalo que quase lhe custou o segundo mandato - mas que, por incrível que pareça, prejudicou muito mais a equipe jornalística do prestigiado "60 minutos", incluindo seu respeitado apresentador Dan Rather. Com base no livro escrito por Mary Mapes, a produtora do programa e principal mira do ataque dos partidários de Bush, Vanderbilt - autor do elogiado script de "Zodíaco" (06), de David Fincher - amargou um fracasso de bilheteria e foi ignorado pelas cerimônias de premiação, mas não faz feio em comparação com outros filmes do gênero, principalmente pela equação equilibrada entre uma boa história e um elenco afiadíssimo, liderado por Cate Blanchett e Robert Redford - coincidentemente um dos atores centrais do icônico "Todos os homens do presidente".
Se no celebrado filme de Alan J. Pakula o galã mais cobiçado das décadas de 60 e 70 vivia um dos repórteres que desmascararam o presidente Richard Nixon no escândalo chamado Watergate, dessa vez Redford assume com tranquilidade um papel de segundo plano, ainda que igualmente importante para os desdobramentos da ação. Cabe à Cate Blanchett - linda e excelente atriz como sempre - a função de estar na linha de frente. Ela vive Mary Mapes, uma competente e dedicada produtora jornalística, responsável por algumas das pautas mais premiadas e importantes do programa "60 Minutos", apresentado pelo veterano Dan Rather (Redford, em atuação elogiada pelo próprio repórter) na CBS. Conhecida por sua fé no jornalismo como fonte de levar a verdade ao público, ela põe a mão em uma matéria de enorme potencial político quando, em 2004, descobre uma série de documentos que comprovam que o então jovem George W. Bush usou de sua influência política e financeira para fugir da Guerra do Vietnã - e, pior ainda, desertou do serviço militar por um período de tempo. Partindo apenas da palavra de Bill Burkett (Stacy Keach) um ex-militar ressentido contra o governo, e com pressa de colocar o programa no ar antes das eleições, Mapes logo sente o gostinho do sucesso ser substituído pelo sabor amargo da opinião pública: peritos surgem para questionar os documentos, testemunhas antes seguras dos fatos mudam de ideia e até mesmo alguns poderosos da emissora passam a duvidar da veracidade da notícia. Sua carreira, até então intocável, passa a depender de ela conseguir provar suas acusações.
Imprimindo um tom sóbrio e elegante à sua narrativa, James Vanderbilt faz uma estreia bastante competente, com bom uso de todos os elementos clássicos do gênero e a exploração correta de cada membro de sua equipe, da diretora de fotografia Mandy Walker e do editor Richard Francis-Bruce - indicado ao Oscar por "Um sonho de liberdade" (94) e "Seven" (95) - até a trilha sonora minimalista, quase imperceptível, de Brian Tyler, que só se faz notar em momentos cruciais, mantendo-se discreta e eficaz durante toda a projeção. Tomando claramente o lado de Mapes na questão - afinal de contas o ponto de vista é dela - e questionando com contundência os mecanismos da busca incansável pela verdade no jornalismo, Vanderbilt cria um panorama bastante rico da situação, conduzindo a plateia pelos meandros do telejornalismo sem nunca perder de mão seu interesse pelos personagens. O time formado por Mapes é tratado com carinho e particular interesse, explorando os desejos e ambições de cada um que a cerca. Há Roger Charles (Dennis Quaid), um militar aposentado e ainda fiel à sua vocação, mas ainda mais leal à verdade; há o jovem Mike Smith (Topher Grace), cuja carreira repleta de altos e baixos trai sua sede de aventuras; e há Lucy Scott (Elizabeth Moss), que entra na jogada com o objetivo de somar pontos à sua carreira e acaba por encontrar um labirinto traiçoeiro. O roteiro dá espaço a cada um desses personagens, mas jamais perde o foco - e essa é sua maior qualidade.
Sem buscar apoio em momentos cômicos ou românticos, "Conspiração e poder" é um retrato atraente e envolvente de um assunto cada vez mais em voga em tempos tão vorazes em termos de informação (e má informação): discutindo os limites da ética e a força do dinheiro e do poder em questões de alto impacto, o roteiro é uma aula de narrativa simples e direta. Apesar de sua verborragia - algo de que poucos filmes sobre o assunto conseguem escapar - e do interesse quase restrito ao público norte-americano (que fez pouco caso do filme nas bilheterias, injustamente), é uma produção de classe e inteligência, que conquista o espectador pelo cérebro e não pela adrenalina. Pode soar um tanto esquemático e frio para quem busca mais tensão e um grande clímax, mas é potente o bastante para permanecer na memória - em especial graças ao desempenho exemplar (mais um!) de Cate Blanchett. Corpo e alma do filme, ela responde pelas cenas mais intensas da produção - em especial em seu embate final com seus inquisidores, liderados por Dermot Mulroney. Estoica, corajosa e brilhante, Mary Mapes encontrou em Blanchett a intérprete ideal. E ao público, resta aplaudir.
O romance entre o cinema e os bastidores do jornalismo já rendeu clássicos inquestionáveis, desde aqueles que defendem a imprensa - "Todos os homens do presidente" (76) - até aqueles que criticam seus abusos - "A montanha dos sete abutres" (57) e "Rede de intrigas" (76). Em 2015, para marcar sua estreia como diretor, o roteirista James Vanderbilt resolveu acrescentar mais um título à primeira lista com "Conspiração e poder", transposição para as telas de uma história real que abalou o telejornalismo norte-americano em 2004 e colocou o então candidato à reeleição George W. Bush diante de um escândalo que quase lhe custou o segundo mandato - mas que, por incrível que pareça, prejudicou muito mais a equipe jornalística do prestigiado "60 minutos", incluindo seu respeitado apresentador Dan Rather. Com base no livro escrito por Mary Mapes, a produtora do programa e principal mira do ataque dos partidários de Bush, Vanderbilt - autor do elogiado script de "Zodíaco" (06), de David Fincher - amargou um fracasso de bilheteria e foi ignorado pelas cerimônias de premiação, mas não faz feio em comparação com outros filmes do gênero, principalmente pela equação equilibrada entre uma boa história e um elenco afiadíssimo, liderado por Cate Blanchett e Robert Redford - coincidentemente um dos atores centrais do icônico "Todos os homens do presidente".
Se no celebrado filme de Alan J. Pakula o galã mais cobiçado das décadas de 60 e 70 vivia um dos repórteres que desmascararam o presidente Richard Nixon no escândalo chamado Watergate, dessa vez Redford assume com tranquilidade um papel de segundo plano, ainda que igualmente importante para os desdobramentos da ação. Cabe à Cate Blanchett - linda e excelente atriz como sempre - a função de estar na linha de frente. Ela vive Mary Mapes, uma competente e dedicada produtora jornalística, responsável por algumas das pautas mais premiadas e importantes do programa "60 Minutos", apresentado pelo veterano Dan Rather (Redford, em atuação elogiada pelo próprio repórter) na CBS. Conhecida por sua fé no jornalismo como fonte de levar a verdade ao público, ela põe a mão em uma matéria de enorme potencial político quando, em 2004, descobre uma série de documentos que comprovam que o então jovem George W. Bush usou de sua influência política e financeira para fugir da Guerra do Vietnã - e, pior ainda, desertou do serviço militar por um período de tempo. Partindo apenas da palavra de Bill Burkett (Stacy Keach) um ex-militar ressentido contra o governo, e com pressa de colocar o programa no ar antes das eleições, Mapes logo sente o gostinho do sucesso ser substituído pelo sabor amargo da opinião pública: peritos surgem para questionar os documentos, testemunhas antes seguras dos fatos mudam de ideia e até mesmo alguns poderosos da emissora passam a duvidar da veracidade da notícia. Sua carreira, até então intocável, passa a depender de ela conseguir provar suas acusações.
Imprimindo um tom sóbrio e elegante à sua narrativa, James Vanderbilt faz uma estreia bastante competente, com bom uso de todos os elementos clássicos do gênero e a exploração correta de cada membro de sua equipe, da diretora de fotografia Mandy Walker e do editor Richard Francis-Bruce - indicado ao Oscar por "Um sonho de liberdade" (94) e "Seven" (95) - até a trilha sonora minimalista, quase imperceptível, de Brian Tyler, que só se faz notar em momentos cruciais, mantendo-se discreta e eficaz durante toda a projeção. Tomando claramente o lado de Mapes na questão - afinal de contas o ponto de vista é dela - e questionando com contundência os mecanismos da busca incansável pela verdade no jornalismo, Vanderbilt cria um panorama bastante rico da situação, conduzindo a plateia pelos meandros do telejornalismo sem nunca perder de mão seu interesse pelos personagens. O time formado por Mapes é tratado com carinho e particular interesse, explorando os desejos e ambições de cada um que a cerca. Há Roger Charles (Dennis Quaid), um militar aposentado e ainda fiel à sua vocação, mas ainda mais leal à verdade; há o jovem Mike Smith (Topher Grace), cuja carreira repleta de altos e baixos trai sua sede de aventuras; e há Lucy Scott (Elizabeth Moss), que entra na jogada com o objetivo de somar pontos à sua carreira e acaba por encontrar um labirinto traiçoeiro. O roteiro dá espaço a cada um desses personagens, mas jamais perde o foco - e essa é sua maior qualidade.
Sem buscar apoio em momentos cômicos ou românticos, "Conspiração e poder" é um retrato atraente e envolvente de um assunto cada vez mais em voga em tempos tão vorazes em termos de informação (e má informação): discutindo os limites da ética e a força do dinheiro e do poder em questões de alto impacto, o roteiro é uma aula de narrativa simples e direta. Apesar de sua verborragia - algo de que poucos filmes sobre o assunto conseguem escapar - e do interesse quase restrito ao público norte-americano (que fez pouco caso do filme nas bilheterias, injustamente), é uma produção de classe e inteligência, que conquista o espectador pelo cérebro e não pela adrenalina. Pode soar um tanto esquemático e frio para quem busca mais tensão e um grande clímax, mas é potente o bastante para permanecer na memória - em especial graças ao desempenho exemplar (mais um!) de Cate Blanchett. Corpo e alma do filme, ela responde pelas cenas mais intensas da produção - em especial em seu embate final com seus inquisidores, liderados por Dermot Mulroney. Estoica, corajosa e brilhante, Mary Mapes encontrou em Blanchett a intérprete ideal. E ao público, resta aplaudir.
sexta-feira
CHRISTINE
CHRISTINE (Christine, 2016, BorderLine Films/Fresh Jade, 119min) Direção: Antonio Campos. Roteiro: Craig Shilowich. Fotografia: Joe Anderson. Montagem: Sofia Subercaseaux. Música: Danny Bensi, Saunder Juriaans. Figurino: Emma Potter. Direção de arte/cenários: Scott Kuzio/Jess Royal. Produção executiva: Sean Durkin, Robert Halmi Jr., Josh Mond, Jim Reeve. Produção: Melody C. Roscher, Craig Shilowich. Elenco: Rebecca Hall, Michael C. Hall, Tracy Letts, Maria Dizzia, J.Smith-Cameron, John Cullum, Tim Simmons. Estreia: 23/01/16 (Festival de Sundance)
O Festival de Sundance 2016 apresentou uma situação atípica: dois filmes que tiveram sua estreia por lá tratavam exatamente do mesmo assunto, ou melhor, da mesma personagem principal. Enquanto "Kate plays Christine", de Robert Greene optava por uma mistura de documentário e ficção, no entanto, o filme de Antonio Campos - filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e da produtora italiana Rose Ganguzza, que foi empresária de Pelé por um período de tempo - se concentra em dramatizar a trágica história da repórter televisiva Christine Chubbuck, uma mulher presa em uma profunda depressão e lutando continuamente contra suas frustrações pessoais. "Christine", estrelado por uma perturbadora Rebecca Hall - premiada como melhor atriz no Festival de Chicago e elogiada unanimemente pela crítica - é um retrato ao mesmo tempo fascinante e mórbido de uma pessoa no limite de suas forças, o que faz dele, por consequência, uma experiência um tanto desconfortável ao espectador que procura apenas por entretenimento. No entanto, é um trabalho forte e consistente, que revela em Campos um cineasta de grande futuro.
Interessado pela história da protagonista por também ter passado por episódios de severa depressão, Antonio Campos tem outra grande qualidade: é um diretor que nutre grande respeito por seu material humano, que acredita na força de sua personagem central e não a trata como mero elemento narrativo. Ainda que a verdadeira Christine Chubbuck não fosse tão perceptivelmente deprimida como mostrado no filme (uma pequena licença poética que em nada tira a força do resultado final, muito pelo contrário), a forma como o roteiro de Craig Shilowich vai gradualmente envolvendo a plateia em seu turbilhão emocional demonstra seu objetivo em criar uma empatia entre público e personagem - por mais que ela seja dotada de uma estranheza que dificulte tal conexão. É nesse ponto que entra o intenso desempenho de Rebecca Hall: em seu trabalho mais desafiador, a atriz entrega uma metódica interpretação, repleta de detalhes físicos que explicitam seu estado de espírito mesmo quando os diálogos que trava com colegas e a mãe dizem exatamente o oposto. Em sua pele, Christine desperta um misto de compaixão e desconforto. É uma performance impecável!
Mas afinal qual é a história contada no filme? Para quem não conhece o desfecho da trajetória de Christine o melhor é não saber de muitos detalhes - o final é chocante e até hoje desperta muita controvérsia, com teorias de conspiração surgindo a cada momento. O que se pode adiantar sem prejuízo é que o roteiro acompanha a busca da repórter televisiva Christine Chubbuck, que, na segunda metade dos anos 70, luta para ser reconhecida por seus colegas e superiores de uma pequena emissora de uma cidade do interior. Depois de ter passado por uma severa crise depressiva, Christine vive uma relação tumultuada com a mãe, Peg (J. Smith-Cameron) - uma mulher que tenta aproximar-se da filha mas nem sempre é bem-sucedida - e, ao contrário do que se poderia supor de alguém que é voluntária em um hospital infantil com um teatro de fantoches, esconde uma vontade quase mórbida de ascender profissionalmente e levar uma vida normal. Uma série de problemas se acumulam em seus dias e nem mesmo a proximidade com o colega George (Michael C. Hall, da série "Dexter") parece ser capaz de afastá-la da tristeza. Frustrada tanto na vida pessoal como na profissional, ela leva ao pé da letra o conselho de seu chefe Michael (Tracy Letts) e decide correr atrás de uma notícia que seja impactante e diferente do que o público está acostumado a ver na televisão.
Com uma leve crítica à morbidez do telespectador e do sadismo das emissoras de televisão, "Christine" é um filme difícil, principalmente por não aliviar a barra no retrato da doença de sua protagonista com momentos de humor. Não há leveza no tratamento que é dado à história, o que é coerente com o tom escolhido pelo diretor e essa coragem fica evidente inclusive no ritmo, que substitui a agilidade de uma edição picotada por um estilo minimalista de narração. Não há grandes cenas de catarse - com a possível exceção de seu clímax - nem tampouco explicações fáceis ou excessivamente didáticas. Ao não subestimar sua audiência e confiar em seu material, Antonio Campos criou um filme discreto mas com potência o bastante para ficar na cabeça do público por um bom tempo. Uma bela surpresa que merece ser descoberta e compartilhada - e que deixa a vontade irresistível de correr ao Google para saber mais sobre a protagonista. Missão cumprida!
O Festival de Sundance 2016 apresentou uma situação atípica: dois filmes que tiveram sua estreia por lá tratavam exatamente do mesmo assunto, ou melhor, da mesma personagem principal. Enquanto "Kate plays Christine", de Robert Greene optava por uma mistura de documentário e ficção, no entanto, o filme de Antonio Campos - filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e da produtora italiana Rose Ganguzza, que foi empresária de Pelé por um período de tempo - se concentra em dramatizar a trágica história da repórter televisiva Christine Chubbuck, uma mulher presa em uma profunda depressão e lutando continuamente contra suas frustrações pessoais. "Christine", estrelado por uma perturbadora Rebecca Hall - premiada como melhor atriz no Festival de Chicago e elogiada unanimemente pela crítica - é um retrato ao mesmo tempo fascinante e mórbido de uma pessoa no limite de suas forças, o que faz dele, por consequência, uma experiência um tanto desconfortável ao espectador que procura apenas por entretenimento. No entanto, é um trabalho forte e consistente, que revela em Campos um cineasta de grande futuro.
Interessado pela história da protagonista por também ter passado por episódios de severa depressão, Antonio Campos tem outra grande qualidade: é um diretor que nutre grande respeito por seu material humano, que acredita na força de sua personagem central e não a trata como mero elemento narrativo. Ainda que a verdadeira Christine Chubbuck não fosse tão perceptivelmente deprimida como mostrado no filme (uma pequena licença poética que em nada tira a força do resultado final, muito pelo contrário), a forma como o roteiro de Craig Shilowich vai gradualmente envolvendo a plateia em seu turbilhão emocional demonstra seu objetivo em criar uma empatia entre público e personagem - por mais que ela seja dotada de uma estranheza que dificulte tal conexão. É nesse ponto que entra o intenso desempenho de Rebecca Hall: em seu trabalho mais desafiador, a atriz entrega uma metódica interpretação, repleta de detalhes físicos que explicitam seu estado de espírito mesmo quando os diálogos que trava com colegas e a mãe dizem exatamente o oposto. Em sua pele, Christine desperta um misto de compaixão e desconforto. É uma performance impecável!
Mas afinal qual é a história contada no filme? Para quem não conhece o desfecho da trajetória de Christine o melhor é não saber de muitos detalhes - o final é chocante e até hoje desperta muita controvérsia, com teorias de conspiração surgindo a cada momento. O que se pode adiantar sem prejuízo é que o roteiro acompanha a busca da repórter televisiva Christine Chubbuck, que, na segunda metade dos anos 70, luta para ser reconhecida por seus colegas e superiores de uma pequena emissora de uma cidade do interior. Depois de ter passado por uma severa crise depressiva, Christine vive uma relação tumultuada com a mãe, Peg (J. Smith-Cameron) - uma mulher que tenta aproximar-se da filha mas nem sempre é bem-sucedida - e, ao contrário do que se poderia supor de alguém que é voluntária em um hospital infantil com um teatro de fantoches, esconde uma vontade quase mórbida de ascender profissionalmente e levar uma vida normal. Uma série de problemas se acumulam em seus dias e nem mesmo a proximidade com o colega George (Michael C. Hall, da série "Dexter") parece ser capaz de afastá-la da tristeza. Frustrada tanto na vida pessoal como na profissional, ela leva ao pé da letra o conselho de seu chefe Michael (Tracy Letts) e decide correr atrás de uma notícia que seja impactante e diferente do que o público está acostumado a ver na televisão.
Com uma leve crítica à morbidez do telespectador e do sadismo das emissoras de televisão, "Christine" é um filme difícil, principalmente por não aliviar a barra no retrato da doença de sua protagonista com momentos de humor. Não há leveza no tratamento que é dado à história, o que é coerente com o tom escolhido pelo diretor e essa coragem fica evidente inclusive no ritmo, que substitui a agilidade de uma edição picotada por um estilo minimalista de narração. Não há grandes cenas de catarse - com a possível exceção de seu clímax - nem tampouco explicações fáceis ou excessivamente didáticas. Ao não subestimar sua audiência e confiar em seu material, Antonio Campos criou um filme discreto mas com potência o bastante para ficar na cabeça do público por um bom tempo. Uma bela surpresa que merece ser descoberta e compartilhada - e que deixa a vontade irresistível de correr ao Google para saber mais sobre a protagonista. Missão cumprida!
quinta-feira
A BRUXA
A BRUXA (The witch: A New-England Folktale, 2015, Parts and Labor/RT Features/Rooks Nest Entertainment, 92min) Direção e roteiro: Robert Eggers. Fotografia: Jarin Blaschke. Montagem: Louise Ford. Música: Mark Korven. Figurino: Linda Muir. Direção de arte/cenários: Craig Lathrop/Mary Kirkland. Produção executiva: Thomas Benski, Jonathan Bronfman, Chris Columbus, Eleanor Columbus, Julia Godzinskaya, Alexandra Johnes, Sophie Mas, Lucas Ochoa, Michael Sackler, Alex Sagalchik, Lourenço Sant'Anna. Produção: Daniel Bekerman, Lars Knudsen, Jodi Redmond, Rodrigo Teixeira, Jay Van Hoy. Elenco: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie. Estreia: 23/01/15 (Festival de Sundance)
Com exceção daqueles fãs de cinema que não se contentam apenas em assistir a um filme, mas também conhecem os nomes daquelas pessoas que estão por trás das câmeras, pouca gente pode ter percebido, nos créditos do aterrador "A bruxa", a presença de dois brasileiros. Lourenço Sant'Anna - que tem no currículo títulos como o aclamado independente "Frances Ha" (2012) e o polêmico "Love" (2015) - e Rodrigo Teixeira - que começou no cinema nacional, com filmes como "O cheiro do ralo" (2006) e "Heleno" (2011) antes de associar-se ao parceiro Sant'Anna em produções internacionais - são creditados, respectivamente, como produtor executivo e produtor do filme de estreia do cineasta Robert Eggers. Prova de seu prestígio junto ao cinema alternativo, os dois brasileiros também estiveram juntos em "Indignação" (2016), adaptação do romance de Philip Roth e "Melhores amigos" (2016), estrelado por Greg Kinnear, obras que agradaram aos críticos e receberam indicações e prêmios mundo afora - além de terem solidificado mais uma vez a criatividade e o talento dos realizadores independentes. Por mais que os filmes citados tenham suas qualidades, porém, é "A bruxa" que mostra, sem espaço para questionamentos, a força e o sucesso da dupla. Um filme de terror adulto e inteligente, o primeiro longa de Eggers perturba justamente por sugerir muito mais do que mostrar - uma receita infalível quando aplicada de forma correta.
Inspirado em uma série de contos, relatos e registros jurídicos feitos no século XVII, "A bruxa" tem, dentre seus inúmeros trunfos, a seriedade com que é conduzido pelo roteiro acurado e elegante de Eggers, que jamais ultrapassa os limites do bom-gosto e da sensibilidade. Por mais que sua trama seja angustiante e se utilize fartamente de elementos clássicos do gênero, Eggers constroi sua narrativa apoiado basicamente na atmosfera de paranoia e religiosidade obsessiva da época, evitando o horror explícito em nome da sutileza e do desconforto que provoca na plateia. Com uma fotografia esplêndida de Jarin Blaschke - que contribui para a sensação de claustrofobia de maior parte da ação - e atores despidos de qualquer vaidade ou artifícios, o filme vai envolvendo o espectador aos poucos, confirmando a estranheza das primeiras cenas conforme a trama vai se desenrolando (e se mostrando gradualmente agoniante). Elogiado publicamente até mesmo pelo mestre do horror, o escritor Stephen King, "A bruxa" não é, definitivamente, um filme convencional e nem tampouco busca públicos que procuram entretenimento ligeiro: é uma pequena obra-prima, capaz de ficar na memória por um bom tempo após seu término - o que é sempre sinal definitivo de que apertou os botões certos.
A história se passa na Nova Inglaterra do ano 1630: a família do fazendeiro William (Ralph Ineson) é banida de sua cidade, devido a questões a respeito de sua forma de enxergar a religião. Isolado com a esposa Katherine (Kate Dickie) e os quatro filhos em uma pequena propriedade perto de uma tétrica floresta, William tenta seguir sua vida dentro dos parâmetros que considera corretos aos olhos de Deus, mas o desaparecimento de seu caçula, um bebê de poucos meses, vira tudo de pernas para o ar. De repente, sua filha mais velha, Thomasin (Anya Taylor-Joy) é acusada por sua própria mãe de praticar atos de bruxaria e condenar a todos com seus rituais. Acuada pela própria família, Thomasin tenta convencê-los de que é inocente, mas outros acontecimentos (cada vez mais violentos e bizarros) a empurram diretamente para o confronto com seu casal de irmãos gêmeos - que podem ou não ter inventado um pacto com Black Philip, o bode preto da família. Quando Caleb (Harvey Scrimshaw), seu outro irmão, desaparece e retorna às portas da morte, Thomasin percebe nitidamente que precisa provar sua inocência, sob pena de ser abandonada pelos pais. Mas o que é, afinal, a verdade?
Manipulando com extrema segurança todos os clichês do terror mas nunca os exagerando, Robert Eggers entrega ao público uma produção fascinante, que exercita os músculos do cérebro com a mesma precisão com que busca o susto e a tensão constante. Em seu primeiro papel principal, Anta Taylor-Joy transmite a exata sensação de desamparo e medo que a plateia, embora sua interpretação também deixe margem, durante todo o tempo, para a dubiedade em relação a seu real papel nos acontecimentos que a circundam. Sob seu ponto de vista, a plateia é convidada a penetrar em um universo sombrio e sufocante, valorizado pelo visual cuidadoso e pela reconstituição de época detalhista. Não à toa, Eggers saiu da cerimônia de entrega dos Independent Spirit Awards com dois prêmios na bagagem, ambos na subcategoria de estreia: melhor filme e roteiro. Difícil discordar dos votantes quando o filme chega ao fim: poucas vezes uma obra de terror conseguiu, nos últimos anos, um resultado tão certeiro quanto "A bruxa". É apavorante, é realista e é um filmaço! Nada de assassinos mascarados ou sangue esguichando: é apenas uma aula de narrativa visual e dramática. Imperdível!
Com exceção daqueles fãs de cinema que não se contentam apenas em assistir a um filme, mas também conhecem os nomes daquelas pessoas que estão por trás das câmeras, pouca gente pode ter percebido, nos créditos do aterrador "A bruxa", a presença de dois brasileiros. Lourenço Sant'Anna - que tem no currículo títulos como o aclamado independente "Frances Ha" (2012) e o polêmico "Love" (2015) - e Rodrigo Teixeira - que começou no cinema nacional, com filmes como "O cheiro do ralo" (2006) e "Heleno" (2011) antes de associar-se ao parceiro Sant'Anna em produções internacionais - são creditados, respectivamente, como produtor executivo e produtor do filme de estreia do cineasta Robert Eggers. Prova de seu prestígio junto ao cinema alternativo, os dois brasileiros também estiveram juntos em "Indignação" (2016), adaptação do romance de Philip Roth e "Melhores amigos" (2016), estrelado por Greg Kinnear, obras que agradaram aos críticos e receberam indicações e prêmios mundo afora - além de terem solidificado mais uma vez a criatividade e o talento dos realizadores independentes. Por mais que os filmes citados tenham suas qualidades, porém, é "A bruxa" que mostra, sem espaço para questionamentos, a força e o sucesso da dupla. Um filme de terror adulto e inteligente, o primeiro longa de Eggers perturba justamente por sugerir muito mais do que mostrar - uma receita infalível quando aplicada de forma correta.
Inspirado em uma série de contos, relatos e registros jurídicos feitos no século XVII, "A bruxa" tem, dentre seus inúmeros trunfos, a seriedade com que é conduzido pelo roteiro acurado e elegante de Eggers, que jamais ultrapassa os limites do bom-gosto e da sensibilidade. Por mais que sua trama seja angustiante e se utilize fartamente de elementos clássicos do gênero, Eggers constroi sua narrativa apoiado basicamente na atmosfera de paranoia e religiosidade obsessiva da época, evitando o horror explícito em nome da sutileza e do desconforto que provoca na plateia. Com uma fotografia esplêndida de Jarin Blaschke - que contribui para a sensação de claustrofobia de maior parte da ação - e atores despidos de qualquer vaidade ou artifícios, o filme vai envolvendo o espectador aos poucos, confirmando a estranheza das primeiras cenas conforme a trama vai se desenrolando (e se mostrando gradualmente agoniante). Elogiado publicamente até mesmo pelo mestre do horror, o escritor Stephen King, "A bruxa" não é, definitivamente, um filme convencional e nem tampouco busca públicos que procuram entretenimento ligeiro: é uma pequena obra-prima, capaz de ficar na memória por um bom tempo após seu término - o que é sempre sinal definitivo de que apertou os botões certos.
A história se passa na Nova Inglaterra do ano 1630: a família do fazendeiro William (Ralph Ineson) é banida de sua cidade, devido a questões a respeito de sua forma de enxergar a religião. Isolado com a esposa Katherine (Kate Dickie) e os quatro filhos em uma pequena propriedade perto de uma tétrica floresta, William tenta seguir sua vida dentro dos parâmetros que considera corretos aos olhos de Deus, mas o desaparecimento de seu caçula, um bebê de poucos meses, vira tudo de pernas para o ar. De repente, sua filha mais velha, Thomasin (Anya Taylor-Joy) é acusada por sua própria mãe de praticar atos de bruxaria e condenar a todos com seus rituais. Acuada pela própria família, Thomasin tenta convencê-los de que é inocente, mas outros acontecimentos (cada vez mais violentos e bizarros) a empurram diretamente para o confronto com seu casal de irmãos gêmeos - que podem ou não ter inventado um pacto com Black Philip, o bode preto da família. Quando Caleb (Harvey Scrimshaw), seu outro irmão, desaparece e retorna às portas da morte, Thomasin percebe nitidamente que precisa provar sua inocência, sob pena de ser abandonada pelos pais. Mas o que é, afinal, a verdade?
Manipulando com extrema segurança todos os clichês do terror mas nunca os exagerando, Robert Eggers entrega ao público uma produção fascinante, que exercita os músculos do cérebro com a mesma precisão com que busca o susto e a tensão constante. Em seu primeiro papel principal, Anta Taylor-Joy transmite a exata sensação de desamparo e medo que a plateia, embora sua interpretação também deixe margem, durante todo o tempo, para a dubiedade em relação a seu real papel nos acontecimentos que a circundam. Sob seu ponto de vista, a plateia é convidada a penetrar em um universo sombrio e sufocante, valorizado pelo visual cuidadoso e pela reconstituição de época detalhista. Não à toa, Eggers saiu da cerimônia de entrega dos Independent Spirit Awards com dois prêmios na bagagem, ambos na subcategoria de estreia: melhor filme e roteiro. Difícil discordar dos votantes quando o filme chega ao fim: poucas vezes uma obra de terror conseguiu, nos últimos anos, um resultado tão certeiro quanto "A bruxa". É apavorante, é realista e é um filmaço! Nada de assassinos mascarados ou sangue esguichando: é apenas uma aula de narrativa visual e dramática. Imperdível!
quarta-feira
BERNARD E DORIS: O MORDOMO E A MILIONÁRIA
BERNARD E DORIS: O MORDOMO E A MILIONÁRIA (Bernard and Doris, 2006, HBO Films, 103min) Direção: Bob Balaban. Roteiro: Hugh Costello. Fotografia: Mauricio Rubinstein. Montagem: Andy Keir. Música: Alex Wurman. Figurino: Joseph G. Aulisi. Direção de arte/cenários: Franckie Diago/Dirk Braeger. Produção executiva: Bob Balaban, Dana Brunetti, Jonathan Cavendish, Adam Kassen, Mark Kassen, Kevin Spacey. Elenco: Susan Sarandon, Ralph Fiennes, James Rebhorn, Monique Gabriela Curnen. Estreia: 17/10/07 (Festival de Hamptons)
Nascida em 1912 e filha única de um magnata da indústria do tabaco e da energia elétrica. Herdeira de uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares (em 1925!). Garçonete de uma cantina no Egito durante a II Guerra Mundial. Correspondente de guerra e articulista da revista Harper's Bazaar. Surfista. Ambientalista ferrenha. Horticulturista apaixonada. Fã de jazz e música gospel a ponto de cantar em um coral. Casada duas vezes - com James H. R. Cornwell e com o diplomata Porfírio Rubirosa - e sem filhos (a única morreu com apenas um dia de vida). Excêntrica por natureza e possibilidades financeiras, Doris Duke foi uma das personalidades mais carismáticas da vida social norte-americana entre a década de 40 e 90, quando morreu aos 80 anos de idade em consequência de um edema pulmonar. Inteligente, culta e generosa, ela foi tema de uma minissérie de 1999 estrelada por Lauren Bacall ("Too rich: the secret life of Doris Duke) e sempre chamou atenção por seus ambiciosos projetos arquitetônicos, como um jardim de exposição pública em Nova Jersei, com onze jardins interligados que retratavam a cultura e a arquitetura de diversos países. Não muito conhecida fora dos EUA, Duke é também uma das protagonistas de "Bernard e Doris: o mordomo e a milionária", telefilme da HBO estrelado por Susan Sarandon e Ralph Fiennes, lançado em 2006 e indicado a três Golden Globes (melhor filme ou minissérie, ator e atriz) e dois SAG Awards (também para seus astros).
Dirigido pelo também ator Bob Balaban, "Bernard e Doris", como o título já antecipa, não é uma biografia de Doris, mas sim o retrato de sua relação de anos com o mordomo Bernard Lafferty, um irlandês homossexual e dedicado que se tornou, com o tempo, seu confidente e amigo mais próximo. O maior beneficiário do testamento de Boris, o introspectivo Bernard foi acusado de ter acelerado sua doença e manipulado a milionária para que lhe deixasse uma pequena fortuna - fato jamais comprovado - e sua morte, alguns anos mais tarde, foi lamentada por nomes como Elizabeth Taylor (com quem já havia trabalhado) e Sharon Stone. O relacionamento entre os dois, patroa e empregado, não é uma história repleta de lances dramáticos e reviravoltas, e sim um estudo delicado de personagens, realçado pelos desempenhos memoráveis de seus intérpretes. Excessivamente longo e por vezes um tanto cansativo, o filme de Balaban é um show de Sarandon e Fiennes, que, sozinhos, são capazes de transformar qualquer experiência em um espetáculo digno de nota - mesmo que o roteiro não seja exatamente interessante.
O filme começa com a chegada de Bernard à vida de Doris, tendo no currículo períodos trabalhando com Liz Taylor e Peggy Lee, entre outras celebridades. Não demora para que ele perceba que sua nova patroa é muito mais complexa do que aparenta ser nas manchetes dos jornais, e depois de um tempo, conquista sua confiança a ponto de fazer longas viagens com ela e dispor-se inclusive a lhe fazer confidências amorosas. Com sérios problemas de alcoolismo em sua vida, Bernard tenta esconder tal condição da milionária, mas tal objetivo torna-se cada vez mais difícil, especialmente depois de uma grave recaída - que põe em xeque sua lealdade e a reciprocidade de seus sentimentos. Construindo um Bernard Lafferty no limite entre o discreto e o afetado, Ralph Fiennes mais uma vez entrega um trabalho admirável, repleto de nuances e subtextos riquíssimos, ainda que mal aproveitados pelo roteiro esquemático de Hugh Costello. Susan Sarandon, por sua vez, brilha em uma personagem feita sob medida para seu talento superlativo: bela e carismática, ela engole tudo à sua volta quando entra em cena, e só não carrega o filme nas costas porque tem em Fiennes um parceiro à altura - é a dinâmica entre eles que vale cada minuto de projeção.
Apesar de ser uma produção da HBO - emissora conhecida pelo capricho de seus projetos - "Bernard e Doris" nunca consegue deixar para trás, no entanto, sua alma de filme feito para a televisão. Sua narrativa prescinde de um pouco mais de ousadia e nem mesmo consegue destacar-se em outros pontos artísticos, como a trilha sonora e a fotografia (competentes, mas opacas). Bob Balaban aposta todas as suas fichas em sua dupla de grandes atores protagonistas, e mesmo que eles sejam fabulosos e estejam em dias inspiradíssimos, não chega a ser suficiente para tornar o filme inesquecível. Tendo Kevin Spacey entre seus produtores executivos, é uma obra correta e simples, mas que perde a oportunidade de ser maior justamente por sua falta de pretensão. No caso de Doris Duke, esse não é um pecado facilmente perdoável.
Nascida em 1912 e filha única de um magnata da indústria do tabaco e da energia elétrica. Herdeira de uma fortuna estimada em 100 milhões de dólares (em 1925!). Garçonete de uma cantina no Egito durante a II Guerra Mundial. Correspondente de guerra e articulista da revista Harper's Bazaar. Surfista. Ambientalista ferrenha. Horticulturista apaixonada. Fã de jazz e música gospel a ponto de cantar em um coral. Casada duas vezes - com James H. R. Cornwell e com o diplomata Porfírio Rubirosa - e sem filhos (a única morreu com apenas um dia de vida). Excêntrica por natureza e possibilidades financeiras, Doris Duke foi uma das personalidades mais carismáticas da vida social norte-americana entre a década de 40 e 90, quando morreu aos 80 anos de idade em consequência de um edema pulmonar. Inteligente, culta e generosa, ela foi tema de uma minissérie de 1999 estrelada por Lauren Bacall ("Too rich: the secret life of Doris Duke) e sempre chamou atenção por seus ambiciosos projetos arquitetônicos, como um jardim de exposição pública em Nova Jersei, com onze jardins interligados que retratavam a cultura e a arquitetura de diversos países. Não muito conhecida fora dos EUA, Duke é também uma das protagonistas de "Bernard e Doris: o mordomo e a milionária", telefilme da HBO estrelado por Susan Sarandon e Ralph Fiennes, lançado em 2006 e indicado a três Golden Globes (melhor filme ou minissérie, ator e atriz) e dois SAG Awards (também para seus astros).
Dirigido pelo também ator Bob Balaban, "Bernard e Doris", como o título já antecipa, não é uma biografia de Doris, mas sim o retrato de sua relação de anos com o mordomo Bernard Lafferty, um irlandês homossexual e dedicado que se tornou, com o tempo, seu confidente e amigo mais próximo. O maior beneficiário do testamento de Boris, o introspectivo Bernard foi acusado de ter acelerado sua doença e manipulado a milionária para que lhe deixasse uma pequena fortuna - fato jamais comprovado - e sua morte, alguns anos mais tarde, foi lamentada por nomes como Elizabeth Taylor (com quem já havia trabalhado) e Sharon Stone. O relacionamento entre os dois, patroa e empregado, não é uma história repleta de lances dramáticos e reviravoltas, e sim um estudo delicado de personagens, realçado pelos desempenhos memoráveis de seus intérpretes. Excessivamente longo e por vezes um tanto cansativo, o filme de Balaban é um show de Sarandon e Fiennes, que, sozinhos, são capazes de transformar qualquer experiência em um espetáculo digno de nota - mesmo que o roteiro não seja exatamente interessante.
O filme começa com a chegada de Bernard à vida de Doris, tendo no currículo períodos trabalhando com Liz Taylor e Peggy Lee, entre outras celebridades. Não demora para que ele perceba que sua nova patroa é muito mais complexa do que aparenta ser nas manchetes dos jornais, e depois de um tempo, conquista sua confiança a ponto de fazer longas viagens com ela e dispor-se inclusive a lhe fazer confidências amorosas. Com sérios problemas de alcoolismo em sua vida, Bernard tenta esconder tal condição da milionária, mas tal objetivo torna-se cada vez mais difícil, especialmente depois de uma grave recaída - que põe em xeque sua lealdade e a reciprocidade de seus sentimentos. Construindo um Bernard Lafferty no limite entre o discreto e o afetado, Ralph Fiennes mais uma vez entrega um trabalho admirável, repleto de nuances e subtextos riquíssimos, ainda que mal aproveitados pelo roteiro esquemático de Hugh Costello. Susan Sarandon, por sua vez, brilha em uma personagem feita sob medida para seu talento superlativo: bela e carismática, ela engole tudo à sua volta quando entra em cena, e só não carrega o filme nas costas porque tem em Fiennes um parceiro à altura - é a dinâmica entre eles que vale cada minuto de projeção.
Apesar de ser uma produção da HBO - emissora conhecida pelo capricho de seus projetos - "Bernard e Doris" nunca consegue deixar para trás, no entanto, sua alma de filme feito para a televisão. Sua narrativa prescinde de um pouco mais de ousadia e nem mesmo consegue destacar-se em outros pontos artísticos, como a trilha sonora e a fotografia (competentes, mas opacas). Bob Balaban aposta todas as suas fichas em sua dupla de grandes atores protagonistas, e mesmo que eles sejam fabulosos e estejam em dias inspiradíssimos, não chega a ser suficiente para tornar o filme inesquecível. Tendo Kevin Spacey entre seus produtores executivos, é uma obra correta e simples, mas que perde a oportunidade de ser maior justamente por sua falta de pretensão. No caso de Doris Duke, esse não é um pecado facilmente perdoável.
terça-feira
O DIA DO ATENTADO
O DIA DO ATENTADO (Patriots Day, 2016, Bluegrass Films/CBS Films/Closest to the Hole Productions, 133min) Direção: Peter Berg. Roteiro: Peter Berg, Matt Cook, Joshua Zetumer, estória de Peter Berg, Matt Cook, Paul Tamasy, Eric Johnson. Fotografia: Tobias A. Schliessler. Montagem: Gabriel Fleming, Colby Parker Jr.. Música: Trent Reznor, Atticus Ross. Figurino: Virginia Johnson. Direção de arte/cenários: Tom Duffield/Ronald R. Reiss. Produção executiva: Louis G. Friedman, Eric Johnson, Nicholas Nesbitt, John Logan Pierson, Paul Tamasy, Dan Wilson. Produção: Dorothy Aufiero, Dylan Clark, Stephen Levinson, Hutch Parker, Michael Radutzky, Scott Stuber, Mark Wahlberg. Elenco: Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Michelle Monaghan, J.K. Simmons, John Goodman. Estreia: 17/11/16
Algo semelhante já havia acontecido em 1974, quando dois projetos diferentes com o mesmo tema - no caso um incêndio de grandes proporções em um arranha-céu - se transformaram em um único filme, o mastodôntico "Inferno na torre", dirigido por John Guillermin e estrelado por gente do naipe de Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway e Fred Astaire. "O dia do atentado" não tem o mesmo escopo milionário, mas tem uma origem semelhante: dois roteiros independentes que, com o mesmo pano de fundo, se fundem em um mesmo produto, com intenções e ritmos distintos para atingir todos os públicos possíveis. Assim, o mesmo filme se divide em um quase documentário sobre o trágico atentado na Maratona de Boston em 2013 - com detalhes sobre a investigação que levou aos culpados e momentos de ação e suspense - e um drama a respeito das vítimas e seus familiares, assim como todos os envolvidos na busca pelos criminosos. Centrada principalmente em um personagem criado especialmente para o filme como um amálgama de vários policiais da cidade, a terceira colaboração entre o diretor Peter Berg e o ator Mark Wahlberg é um competente entretenimento, mas que peca justamente por sua falta de foco. Quando se concentra no melhor que Berg sabe fazer (uma obra tensa e eficiente de suspense) é um ótimo filme. Quando busca a emoção mais sutil acaba por perder o ritmo imposto por algumas sequências de tirar o fôlego.
Assim como no ótimo "O grande herói" (2014) e no apenas mediano "Horizonte profundo" (2016) - as colaborações anteriores do cineasta com Wahlberg - o roteiro de "O dia do atentado" tem como objetivo realçar os momentos mais valorosos de seus protagonistas, mas nem sempre o equilíbrio funciona nesse terceiro capítulo. À vontade quando dirige sequências mais tensas e tecnicamente complexas, Berg parece não ter a mesma desenvoltura em comandar momentos de maior emoção - o que acaba por fazer com que seu filme, por mais que tente fugir do rótulo, seja mais um exemplar de um gênero que tem fãs incondicionais ao redor do mundo: "O dia do atentado" até se esforça em ser mais do que um filme policial de ação, mas sua vocação para entretenimento rápido (mais do que um drama edificante e memorável) fica evidente sempre que suas câmeras passam do sofrimento nos hospitais para a adrenalina das ruas. Com uma edição competente e um desenho de som inteligente, a corrida atrás dos responsáveis por um dos mais graves atentados à bomba em território americano da história é muito mais empolgante e interessante do que os cuidados médicos a suas vítimas. Coincidência ou não, o filme "O que te faz mais forte", estrelado por Jake Gyllenhaal (e que conta a trajetória de um dos sobreviventes) foca mais no drama pessoal do protagonista - e acaba sendo um complemento à obra de Berg.
Ao contrário da maioria dos filmes norte-americanos que recriam as tragédias ocorridas em seu solo como produções de heroísmo pessoal (vide "Torres gêmeas", de Oliver Stone e o próprio "Horizonte profundo", do mesmo Peter Berg), "O dia do atentado" demora a estabelecer-se como um filme de ação, preferindo gastar seus preciosos minutos iniciais apresentando alguns dos personagens que irão conviver com o público pelas duas horas seguintes. É assim que surge o Sargento Tommy Saunders (Mark Wahlberg sem muito o que fazer e sem a importância que alguns cartazes fazem entender): casado com a bela Carol (Michelle Monaghan), ele se destaca no trabalho pelas ruas de Boston, cidade a que conhece como a palma da mão. É ele quem irá ser a peça crucial na caçada aos irmãos Tsarnaev - os culpados pela explosão de uma bomba junto aos espectadores da tradicional maratona da cidade. Antes que a caçada comece, no entanto, o roteiro faz questão de introduzir à audiência outros nomes fundamentais da história, como o casal Patrick Downes (Christopher O'Shea) e Jessica Kinsky (Rachel Brosnahan), a jovem cientista Li (Lana Condor), o estudante Dun Meng (Jimmy O. Yang) e Steve Woolfenden (Dustin Tucker) e seu filho pequeno: todos serão vítimas, em maior ou menor grau, do violento incidente, e Berg cuida para não exagerar na sacarose, tratando seus personagens com respeito e cuidado - mesmo que posteriormente os acabe deixando em segundo plano).
Depois de explosão - antecedida com sequências que mostram sua preparação pelos irmãos Tamerlan (Themo Melikidze) e Dzokhar (Alex Wolff) - a trama de "O dia do atentado" finalmente se bifurca, convidando a plateia para testemunhar a agonia das vítimas da explosão (nada de muito sofisticado emocionalmente ou tampouco inédito) e a corrida dos policiais do FBI, liderados pelo agente especial Rick Deslauriers (Kevin Bacon), atrás dos responsáveis. As longas sequências pelas ruas da cidade, em uma noite particularmente tensa e violenta, são preciosas, mostrando o cuidado do diretor em ser ao mesmo tempo realista e capaz de envolver o público com as ferramentas básicas do suspense. São momentos em que o filme cresce e atinge todo o seu potencial - algo que o mesmo diretor fez em "O grande herói", uma produção de guerra que explora todos os elementos do gênero de forma inteligente e honesta. A opção do roteiro em não fazer de Tommy Saunders um herói individual é corajosa, uma vez que o público espera algo assim de um filme de ação, mas acaba, paradoxalmente, enfraquecendo um pouco seu clímax - apesar de ele ser, ainda assim, potente o bastante para grudar a plateia na poltrona. No fim das contas, "O dia do atentado" é um bom filme de ação, com algumas doses de drama e um domínio técnico invejável de sua equipe. Não é inesquecível, mas está um patamar acima da média das produções do gênero simplesmente por não subestimar a inteligência do espectador.
Algo semelhante já havia acontecido em 1974, quando dois projetos diferentes com o mesmo tema - no caso um incêndio de grandes proporções em um arranha-céu - se transformaram em um único filme, o mastodôntico "Inferno na torre", dirigido por John Guillermin e estrelado por gente do naipe de Paul Newman, Steve McQueen, Faye Dunaway e Fred Astaire. "O dia do atentado" não tem o mesmo escopo milionário, mas tem uma origem semelhante: dois roteiros independentes que, com o mesmo pano de fundo, se fundem em um mesmo produto, com intenções e ritmos distintos para atingir todos os públicos possíveis. Assim, o mesmo filme se divide em um quase documentário sobre o trágico atentado na Maratona de Boston em 2013 - com detalhes sobre a investigação que levou aos culpados e momentos de ação e suspense - e um drama a respeito das vítimas e seus familiares, assim como todos os envolvidos na busca pelos criminosos. Centrada principalmente em um personagem criado especialmente para o filme como um amálgama de vários policiais da cidade, a terceira colaboração entre o diretor Peter Berg e o ator Mark Wahlberg é um competente entretenimento, mas que peca justamente por sua falta de foco. Quando se concentra no melhor que Berg sabe fazer (uma obra tensa e eficiente de suspense) é um ótimo filme. Quando busca a emoção mais sutil acaba por perder o ritmo imposto por algumas sequências de tirar o fôlego.
Assim como no ótimo "O grande herói" (2014) e no apenas mediano "Horizonte profundo" (2016) - as colaborações anteriores do cineasta com Wahlberg - o roteiro de "O dia do atentado" tem como objetivo realçar os momentos mais valorosos de seus protagonistas, mas nem sempre o equilíbrio funciona nesse terceiro capítulo. À vontade quando dirige sequências mais tensas e tecnicamente complexas, Berg parece não ter a mesma desenvoltura em comandar momentos de maior emoção - o que acaba por fazer com que seu filme, por mais que tente fugir do rótulo, seja mais um exemplar de um gênero que tem fãs incondicionais ao redor do mundo: "O dia do atentado" até se esforça em ser mais do que um filme policial de ação, mas sua vocação para entretenimento rápido (mais do que um drama edificante e memorável) fica evidente sempre que suas câmeras passam do sofrimento nos hospitais para a adrenalina das ruas. Com uma edição competente e um desenho de som inteligente, a corrida atrás dos responsáveis por um dos mais graves atentados à bomba em território americano da história é muito mais empolgante e interessante do que os cuidados médicos a suas vítimas. Coincidência ou não, o filme "O que te faz mais forte", estrelado por Jake Gyllenhaal (e que conta a trajetória de um dos sobreviventes) foca mais no drama pessoal do protagonista - e acaba sendo um complemento à obra de Berg.
Ao contrário da maioria dos filmes norte-americanos que recriam as tragédias ocorridas em seu solo como produções de heroísmo pessoal (vide "Torres gêmeas", de Oliver Stone e o próprio "Horizonte profundo", do mesmo Peter Berg), "O dia do atentado" demora a estabelecer-se como um filme de ação, preferindo gastar seus preciosos minutos iniciais apresentando alguns dos personagens que irão conviver com o público pelas duas horas seguintes. É assim que surge o Sargento Tommy Saunders (Mark Wahlberg sem muito o que fazer e sem a importância que alguns cartazes fazem entender): casado com a bela Carol (Michelle Monaghan), ele se destaca no trabalho pelas ruas de Boston, cidade a que conhece como a palma da mão. É ele quem irá ser a peça crucial na caçada aos irmãos Tsarnaev - os culpados pela explosão de uma bomba junto aos espectadores da tradicional maratona da cidade. Antes que a caçada comece, no entanto, o roteiro faz questão de introduzir à audiência outros nomes fundamentais da história, como o casal Patrick Downes (Christopher O'Shea) e Jessica Kinsky (Rachel Brosnahan), a jovem cientista Li (Lana Condor), o estudante Dun Meng (Jimmy O. Yang) e Steve Woolfenden (Dustin Tucker) e seu filho pequeno: todos serão vítimas, em maior ou menor grau, do violento incidente, e Berg cuida para não exagerar na sacarose, tratando seus personagens com respeito e cuidado - mesmo que posteriormente os acabe deixando em segundo plano).
Depois de explosão - antecedida com sequências que mostram sua preparação pelos irmãos Tamerlan (Themo Melikidze) e Dzokhar (Alex Wolff) - a trama de "O dia do atentado" finalmente se bifurca, convidando a plateia para testemunhar a agonia das vítimas da explosão (nada de muito sofisticado emocionalmente ou tampouco inédito) e a corrida dos policiais do FBI, liderados pelo agente especial Rick Deslauriers (Kevin Bacon), atrás dos responsáveis. As longas sequências pelas ruas da cidade, em uma noite particularmente tensa e violenta, são preciosas, mostrando o cuidado do diretor em ser ao mesmo tempo realista e capaz de envolver o público com as ferramentas básicas do suspense. São momentos em que o filme cresce e atinge todo o seu potencial - algo que o mesmo diretor fez em "O grande herói", uma produção de guerra que explora todos os elementos do gênero de forma inteligente e honesta. A opção do roteiro em não fazer de Tommy Saunders um herói individual é corajosa, uma vez que o público espera algo assim de um filme de ação, mas acaba, paradoxalmente, enfraquecendo um pouco seu clímax - apesar de ele ser, ainda assim, potente o bastante para grudar a plateia na poltrona. No fim das contas, "O dia do atentado" é um bom filme de ação, com algumas doses de drama e um domínio técnico invejável de sua equipe. Não é inesquecível, mas está um patamar acima da média das produções do gênero simplesmente por não subestimar a inteligência do espectador.
segunda-feira
ARMAS NA MESA
ARMAS NA MESA (Miss Sloane, 2016, Transfilm/Archery Pictures/Canal + Distribution, 132min) Direção: John Madden. Roteiro: Jonathan Perera. Fotografia: Sebastian Blenkov. Montagem: Alexander Berner. Música: Max Richter. Figurino: Georgina Yarhi. Direção de arte/cenários: Matthew Davies/Peter P. Nicolakakos. Produção executiva: Patrick Chu, Claude Léger, Jonathan Vanger. Produção: Ben Browning, Khris Thykier, Ariel Zeitoun. Elenco: Jessica Chastain, Mark Strong, Alison Pill, John Litghow, Christine Baranski, Michael Stuhlbarg, Sam Waterston, Jake Lacy, Dylan Baker, Gugu Mbatha-Raw. Estreia: 11/11/16
Uma das mais poderosas e importantes dos EUA, a indústria bélica afeta diretamente a economia e a sociedade norte-americanas, uma das mais benevolentes em leis de porte e compra de armas - e cujas consequências frequentam o noticiário com assustadora regularidade, com atentados violentos e mortais contra civis. O tema chegou a ser tema do impressionante documentário "Tiros em Columbine", de Michael Moore, vencedor do Oscar da categoria em 2001, e volta e meia serve de assunto para discussões sérias e polêmicas que envolvem políticos, empresários e a sociedade em geral, mas Hollywood, sintomaticamente, poucas vezes entrou na controvertida questão. Por isso não deixa de ser uma surpresa que um filme como "Armas na mesa" tenha surgido - ainda que timidamente, uma vez que não foi bem nas bilheterias e foi injustamente ignorado pelo Oscar - e tocado nesse nervo tão dolorido do american way of life. Dirigido por John Madden, que já conheceu o gostinho do sucesso com "Shakespeare apaixonado" (98) e estrelado por uma avassaladora Jessica Chastain, merecidamente indicada ao Golden Globe de melhor atriz dramática, o filme não aprofunda a questão, mas a utiliza como pano de fundo para uma trama inteligente e envolvente, que surpreende até os minutos finais.
A fascinante e complexa protagonista é Elizabeth Sloane, uma lobista talentosa e afeita a métodos pouco ortodoxos para atingir seus objetivos profissionais - mas que, paradoxalmente, só aceita trabalhos que vão ao encontro de seus princípios pessoais. É por essa razão que ela recusa a oferta milionária de um grupo de empresários que a procuram para que ela batalhe contra uma emenda constitucional que propõe mais rigidez na liberação de licenças para porte de arma no país. Conforme o raciocínio das velhas raposas, o fato de Elizabeth ser mulher poderia lhe dar ainda mais confiabilidade junto ao público feminino - seu maior alvo. Sentindo-se pressionada até mesmo por seu chefe, George Dupont (Sam Waterston), ela surpreende a todos ao aliar-se com uma firma de advocacia concorrente, que tenta justamente o oposto no Congresso. Liderada por Rodolfo Schmidt (Mark Strong), a nova equipe da ousada lobista passa a ser formada por antigos colaboradores, que entram, então, em rota de colisão com os remanescentes de seu antigo grupo, como o ambicioso Pat Connors (Michael Stuhlbarg) e a jovem Jane Molloy (Alisson Pill). Disposta a qualquer coisa para manter seu currículo, Elizabeth Sloane não medirá esforços para conquistar a opinião pública - inclusive usar o trauma de uma colega, Esme Manucharian (Gugu Mbatha-Raw), cujo passado esconde um terrível acontecimento.
Com um roteiro que vai revelando aos poucos todos os seus desdobramentos e uma personagem central repleta de nuances, "Armas na mesa" é um filme feito para adultos, para uma plateia exigente que busca tramas consistentes e imprevisíveis. Sua protagonista é uma das mais impressionantes da temporada 2016, e a interpretação irretocável de Jessica Chastain (mais uma, na verdade) é, além de sua maior qualidade, seu ponto de sustentação. Ao dotar Elizabeth Sloane de uma série de defeitos e aproximá-la do espectador médio - com suas frustrações pessoais, sua solidão, sua inadequação à normalidade - o filme trabalha de maneira exemplar a intersecção entre a trama política e o drama pessoal, que o leva a um clímax poderoso e surpreendente. Chastain está brilhante e rouba todas as cenas em que aparece, seja humilhando opositores, discutindo com inimigos, conversando com o terapeuta ou ensaiando uma hesitante relação com o garoto de programa Forde (Jake Lacy), que lhe faz repensar algumas de suas atitudes. Seu desempenho é tão forte que eclipsa até mesmo gente talentosa como John Lithgow e Sam Waterston, que pouco tem a fazer senão pontuar seu show. Não foi à toa que John Madden pensou imediatamente nela quando leu o roteiro - ambos já tem outro trabalho em conjunto, o subestimado "A grande mentira" (2010), mas aqui atingem um outro nível de entendimento profissional, absolutamente mais sofisticado.
De ritmo mais lento que a maioria das produções hollywoodianas - que privilegiam uma edição histérica em detrimento do desenvolvimento de personagens e de sua história - "Armas na mesa" convida o público a não apenas refletir sobre um tema relevante, mas também a mergulhar em um universo poucas vezes retratados com fidelidade no cinema. Ao testemunhar as artimanhas de Elizabeth em sua trajetória rumo ao sucesso profissional, a plateia se vê diante de um mundo de negociações escusas, de mentiras, chantagens e jogos baixos que em muito reflete a realidade não só norte-americana, mas de todos os países democráticos do mundo. Sem forçar a mão nas discussões políticas e preferindo enfatizar a personalidade dúbia de sua protagonista, o roteiro de Jonathan Perera torna-se universal e brinda a audiência com diálogos acima da média e um desenvolvimento gradual, que conquista a cada cena, até seu final explosivo. Um filme que merece ser descoberto - e que injustamente não rendeu à sua atriz principal todos os aplausos que ela merece.
Uma das mais poderosas e importantes dos EUA, a indústria bélica afeta diretamente a economia e a sociedade norte-americanas, uma das mais benevolentes em leis de porte e compra de armas - e cujas consequências frequentam o noticiário com assustadora regularidade, com atentados violentos e mortais contra civis. O tema chegou a ser tema do impressionante documentário "Tiros em Columbine", de Michael Moore, vencedor do Oscar da categoria em 2001, e volta e meia serve de assunto para discussões sérias e polêmicas que envolvem políticos, empresários e a sociedade em geral, mas Hollywood, sintomaticamente, poucas vezes entrou na controvertida questão. Por isso não deixa de ser uma surpresa que um filme como "Armas na mesa" tenha surgido - ainda que timidamente, uma vez que não foi bem nas bilheterias e foi injustamente ignorado pelo Oscar - e tocado nesse nervo tão dolorido do american way of life. Dirigido por John Madden, que já conheceu o gostinho do sucesso com "Shakespeare apaixonado" (98) e estrelado por uma avassaladora Jessica Chastain, merecidamente indicada ao Golden Globe de melhor atriz dramática, o filme não aprofunda a questão, mas a utiliza como pano de fundo para uma trama inteligente e envolvente, que surpreende até os minutos finais.
A fascinante e complexa protagonista é Elizabeth Sloane, uma lobista talentosa e afeita a métodos pouco ortodoxos para atingir seus objetivos profissionais - mas que, paradoxalmente, só aceita trabalhos que vão ao encontro de seus princípios pessoais. É por essa razão que ela recusa a oferta milionária de um grupo de empresários que a procuram para que ela batalhe contra uma emenda constitucional que propõe mais rigidez na liberação de licenças para porte de arma no país. Conforme o raciocínio das velhas raposas, o fato de Elizabeth ser mulher poderia lhe dar ainda mais confiabilidade junto ao público feminino - seu maior alvo. Sentindo-se pressionada até mesmo por seu chefe, George Dupont (Sam Waterston), ela surpreende a todos ao aliar-se com uma firma de advocacia concorrente, que tenta justamente o oposto no Congresso. Liderada por Rodolfo Schmidt (Mark Strong), a nova equipe da ousada lobista passa a ser formada por antigos colaboradores, que entram, então, em rota de colisão com os remanescentes de seu antigo grupo, como o ambicioso Pat Connors (Michael Stuhlbarg) e a jovem Jane Molloy (Alisson Pill). Disposta a qualquer coisa para manter seu currículo, Elizabeth Sloane não medirá esforços para conquistar a opinião pública - inclusive usar o trauma de uma colega, Esme Manucharian (Gugu Mbatha-Raw), cujo passado esconde um terrível acontecimento.
Com um roteiro que vai revelando aos poucos todos os seus desdobramentos e uma personagem central repleta de nuances, "Armas na mesa" é um filme feito para adultos, para uma plateia exigente que busca tramas consistentes e imprevisíveis. Sua protagonista é uma das mais impressionantes da temporada 2016, e a interpretação irretocável de Jessica Chastain (mais uma, na verdade) é, além de sua maior qualidade, seu ponto de sustentação. Ao dotar Elizabeth Sloane de uma série de defeitos e aproximá-la do espectador médio - com suas frustrações pessoais, sua solidão, sua inadequação à normalidade - o filme trabalha de maneira exemplar a intersecção entre a trama política e o drama pessoal, que o leva a um clímax poderoso e surpreendente. Chastain está brilhante e rouba todas as cenas em que aparece, seja humilhando opositores, discutindo com inimigos, conversando com o terapeuta ou ensaiando uma hesitante relação com o garoto de programa Forde (Jake Lacy), que lhe faz repensar algumas de suas atitudes. Seu desempenho é tão forte que eclipsa até mesmo gente talentosa como John Lithgow e Sam Waterston, que pouco tem a fazer senão pontuar seu show. Não foi à toa que John Madden pensou imediatamente nela quando leu o roteiro - ambos já tem outro trabalho em conjunto, o subestimado "A grande mentira" (2010), mas aqui atingem um outro nível de entendimento profissional, absolutamente mais sofisticado.
De ritmo mais lento que a maioria das produções hollywoodianas - que privilegiam uma edição histérica em detrimento do desenvolvimento de personagens e de sua história - "Armas na mesa" convida o público a não apenas refletir sobre um tema relevante, mas também a mergulhar em um universo poucas vezes retratados com fidelidade no cinema. Ao testemunhar as artimanhas de Elizabeth em sua trajetória rumo ao sucesso profissional, a plateia se vê diante de um mundo de negociações escusas, de mentiras, chantagens e jogos baixos que em muito reflete a realidade não só norte-americana, mas de todos os países democráticos do mundo. Sem forçar a mão nas discussões políticas e preferindo enfatizar a personalidade dúbia de sua protagonista, o roteiro de Jonathan Perera torna-se universal e brinda a audiência com diálogos acima da média e um desenvolvimento gradual, que conquista a cada cena, até seu final explosivo. Um filme que merece ser descoberto - e que injustamente não rendeu à sua atriz principal todos os aplausos que ela merece.
domingo
AMY
AMY (Amy, 2015, Film4/On The Corner Films, 128min) Direção: Asif Kapadia. Fotografia: Rafael Bettega, Jake Clennell, Ernesto Herrmann. Montagem: Chris King. Música: Antonio Pinto. Produção executiva: Adam Barker, David Joseph. Produção: James Gay-Rees. Estreia: 16/5/15 (Festival de Cannes)
Vencedor do Oscar de Melhor Documentário
Foi meteórica, mas foi marcante e inesquecível. A passagem da cantora britânica Amy Winehouse pela vida - breve, de meros 27 anos - não deixou ninguém indiferente. Dona de uma voz peculiar, um estilo próprio e uma existência recheada tanto de sucesso quanto de polêmicas, Winehouse deixou o mundo em 23 de julho de 2011, e seu final melancólico nem chegou a ser surpreendente. Foi a crônica de uma morte anunciada: seus problemas com álcool e drogas, que a levavam constantemente às páginas de tabloides sensacionalistas mais do que às reportagens sobre música, estavam claramente a conduzindo para um desfecho trágico. E pior ainda: o mundo estava testemunhando calado sua decadência física, mais preocupado no folclore ligado a seu nome no que na qualidade de seu talento. Vítima frequente de deboche e caricaturas, Winehouse pereceu diante da mesma audiência que um dia a cobriu de aplausos - e no outro viu nela o alvo perfeito para uma perseguição mórbida e criminosa. Uma personalidade fascinante e complexa, a cantora que tirou o pó do jazz e o apresentou para uma geração de fãs de música pop é o tema de "Amy", o belo e triste documentário dirigido pelo mesmo Asif Kapadia do celebrado "Senna" (2010). Vencedor do Oscar da categoria e outros 50 prêmios em festivais e por associações de críticos, o filme é um retrato fiel e carinhoso da artista - e uma feroz crítica à indústria das celebridades.
Com acesso a imagens exclusivas e raras da adolescência e juventude de Amy - cortesia da família da cantora, que posteriormente rejeitou o resultado final do projeto, alegando que o filme não lhes era simpático ou ao menos justo - o documentário de Kapadia é um presente para os fãs, mostrando um lado de Winehouse que poucas vezes chegava até à mídia. Através de filmes caseiros, é possível conhecer um Amy ainda bastante jovem e já concentrada em seu desejo de fazer música, mas cercada de amigos e familiares que lhe davam amor e apoio - ao menos até que a ausência paterna tenha começado a fazer seus estragos: sofrendo de bulimia e uma insegurança quase patológica, Amy viu no palco e nos estúdios a válvula de escape para uma existência mais significativa, mas jamais poderia supor que, ao lado do sucesso, de mãos dadas com ele, estava o fim da privacidade que tanto amava. Sem buscar o sucesso a qualquer preço ou a celebridade oca, sua intenção era compor e cantar seus sentimentos mais profundos - o que acabou levando-a, com o tempo, a chegar nas paradas de sucesso e ver-se soterrada por responsabilidades e cobranças que ela preferia evitar. Por trás do abuso de drogas e álcool, sempre esteve a menina deslumbrada com seus ídolos (Tony Bennett entre eles) e a filha carente de amor paterno, que, como qualquer pessoa normal, errava ao escolher seus amores da mesma forma com que conquistava o coração de milhares de admiradores de boa música.
Sem medo de apontar o dedo para aqueles que certamente contribuíram para a decadência física e mental de Amy, o documentário dá ênfase a dois homens que nortearam a vida e a carreira da cantora. O primeiro deles, seu próprio pai, Mitch Winehouse, que aproveitou-se do sucesso da filha para lucrar mesmo que isso fosse contra sua vontade (e as necessidades médicas e psicológicas). O segundo, seu marido, o músico Blake Fielder, que inspirou seu álbum mais famoso, "Back to black" quando a abandonou para voltar para uma ex-namorada e aprofundou seu consumo de drogas, lhe apresentando a heroína e iniciando um relacionamento marcado por escândalos, clínicas de reabilitação, manchetes sensacionalistas e uma série de decepções que transformaram a Amy Winehouse vencedora do Grammy, fenômeno do jazz e adorada por milhares de fãs na Amy Winehouse agressiva, irresponsável e alvo mais de chacotas e críticas do que de elogios. Sua fragilidade física e mental é mostrada de forma clara e direta por Kapadia, que novamente descarta qualquer tipo de narração em off para construir seu filme unicamente com imagens e áudios, que dão a exata noção de como vivia (e como morreu) uma das mais exploradas figuras da música popular do século XXI. E, como não poderia deixar de fazer, também responsabiliza o público por seu drama pessoal.
Perseguida incansavelmente pela mídia, Amy Winehouse passou de estrela da música a atração de programas e jornais sensacionalistas. Em pouco tempo sua música deixou de ter o destaque que merecia e foi substituída por um interesse quase doentio da imprensa, que sabia que, a cada escândalo, a cada internação, a cada show cancelado e a cada fofoca de bastidores, mais jornais e revistas venderia. Amy virou a pessoa certa para quem procurava barracos e situações constrangedoras, um fato alimentado pelos leitores e telespectadores que começavam a enxergá-la como parte do folclore do mundo das celebridades. O documentário não hesita em forçar o espectador em colocar a mão na consciência e perceber o quanto isso tudo influenciou negativamente na trajetória de Amy, uma jovem que queria apenas cantar suas dores e frustrações e se viu diante do furacão incontrolável da fama mundial. Enquanto se faziam piadas sobre seu estado e a colocavam como uma patética personagem de si mesma, ela se afundava mais e mais em um estado irremediável de angústia e solidão. Esse retrato sem piedade de um ser humano e suas tentativas de sobreviver diante de fatos sobre os quais não tinha controle é o mais triste de "Amy", mas é também o que o faz imprescindível para se compreender a verdadeira Winehouse por trás da fama, dos boatos e do falso glamour da fama. Um filme obrigatório, e não somente para os fãs.
Vencedor do Oscar de Melhor Documentário
Foi meteórica, mas foi marcante e inesquecível. A passagem da cantora britânica Amy Winehouse pela vida - breve, de meros 27 anos - não deixou ninguém indiferente. Dona de uma voz peculiar, um estilo próprio e uma existência recheada tanto de sucesso quanto de polêmicas, Winehouse deixou o mundo em 23 de julho de 2011, e seu final melancólico nem chegou a ser surpreendente. Foi a crônica de uma morte anunciada: seus problemas com álcool e drogas, que a levavam constantemente às páginas de tabloides sensacionalistas mais do que às reportagens sobre música, estavam claramente a conduzindo para um desfecho trágico. E pior ainda: o mundo estava testemunhando calado sua decadência física, mais preocupado no folclore ligado a seu nome no que na qualidade de seu talento. Vítima frequente de deboche e caricaturas, Winehouse pereceu diante da mesma audiência que um dia a cobriu de aplausos - e no outro viu nela o alvo perfeito para uma perseguição mórbida e criminosa. Uma personalidade fascinante e complexa, a cantora que tirou o pó do jazz e o apresentou para uma geração de fãs de música pop é o tema de "Amy", o belo e triste documentário dirigido pelo mesmo Asif Kapadia do celebrado "Senna" (2010). Vencedor do Oscar da categoria e outros 50 prêmios em festivais e por associações de críticos, o filme é um retrato fiel e carinhoso da artista - e uma feroz crítica à indústria das celebridades.
Com acesso a imagens exclusivas e raras da adolescência e juventude de Amy - cortesia da família da cantora, que posteriormente rejeitou o resultado final do projeto, alegando que o filme não lhes era simpático ou ao menos justo - o documentário de Kapadia é um presente para os fãs, mostrando um lado de Winehouse que poucas vezes chegava até à mídia. Através de filmes caseiros, é possível conhecer um Amy ainda bastante jovem e já concentrada em seu desejo de fazer música, mas cercada de amigos e familiares que lhe davam amor e apoio - ao menos até que a ausência paterna tenha começado a fazer seus estragos: sofrendo de bulimia e uma insegurança quase patológica, Amy viu no palco e nos estúdios a válvula de escape para uma existência mais significativa, mas jamais poderia supor que, ao lado do sucesso, de mãos dadas com ele, estava o fim da privacidade que tanto amava. Sem buscar o sucesso a qualquer preço ou a celebridade oca, sua intenção era compor e cantar seus sentimentos mais profundos - o que acabou levando-a, com o tempo, a chegar nas paradas de sucesso e ver-se soterrada por responsabilidades e cobranças que ela preferia evitar. Por trás do abuso de drogas e álcool, sempre esteve a menina deslumbrada com seus ídolos (Tony Bennett entre eles) e a filha carente de amor paterno, que, como qualquer pessoa normal, errava ao escolher seus amores da mesma forma com que conquistava o coração de milhares de admiradores de boa música.
Sem medo de apontar o dedo para aqueles que certamente contribuíram para a decadência física e mental de Amy, o documentário dá ênfase a dois homens que nortearam a vida e a carreira da cantora. O primeiro deles, seu próprio pai, Mitch Winehouse, que aproveitou-se do sucesso da filha para lucrar mesmo que isso fosse contra sua vontade (e as necessidades médicas e psicológicas). O segundo, seu marido, o músico Blake Fielder, que inspirou seu álbum mais famoso, "Back to black" quando a abandonou para voltar para uma ex-namorada e aprofundou seu consumo de drogas, lhe apresentando a heroína e iniciando um relacionamento marcado por escândalos, clínicas de reabilitação, manchetes sensacionalistas e uma série de decepções que transformaram a Amy Winehouse vencedora do Grammy, fenômeno do jazz e adorada por milhares de fãs na Amy Winehouse agressiva, irresponsável e alvo mais de chacotas e críticas do que de elogios. Sua fragilidade física e mental é mostrada de forma clara e direta por Kapadia, que novamente descarta qualquer tipo de narração em off para construir seu filme unicamente com imagens e áudios, que dão a exata noção de como vivia (e como morreu) uma das mais exploradas figuras da música popular do século XXI. E, como não poderia deixar de fazer, também responsabiliza o público por seu drama pessoal.
Perseguida incansavelmente pela mídia, Amy Winehouse passou de estrela da música a atração de programas e jornais sensacionalistas. Em pouco tempo sua música deixou de ter o destaque que merecia e foi substituída por um interesse quase doentio da imprensa, que sabia que, a cada escândalo, a cada internação, a cada show cancelado e a cada fofoca de bastidores, mais jornais e revistas venderia. Amy virou a pessoa certa para quem procurava barracos e situações constrangedoras, um fato alimentado pelos leitores e telespectadores que começavam a enxergá-la como parte do folclore do mundo das celebridades. O documentário não hesita em forçar o espectador em colocar a mão na consciência e perceber o quanto isso tudo influenciou negativamente na trajetória de Amy, uma jovem que queria apenas cantar suas dores e frustrações e se viu diante do furacão incontrolável da fama mundial. Enquanto se faziam piadas sobre seu estado e a colocavam como uma patética personagem de si mesma, ela se afundava mais e mais em um estado irremediável de angústia e solidão. Esse retrato sem piedade de um ser humano e suas tentativas de sobreviver diante de fatos sobre os quais não tinha controle é o mais triste de "Amy", mas é também o que o faz imprescindível para se compreender a verdadeira Winehouse por trás da fama, dos boatos e do falso glamour da fama. Um filme obrigatório, e não somente para os fãs.
sábado
AMOR POR DIREITO
AMOR POR DIREITO (Freeheld, 2015, Double Feature Films, 103min) Direção: Peter Sollett. Roteiro: Ron Nyswaner. Fotografia: Maryse Alberti. Montagem: Andrew Mondsheim. Música: Johnny Marr, Hans Zimmer. Figurino: Stacey Battat. Direção de arte/cenários: Jane Musky/Joanne Ling. Produção executiva: Hilary Davis, Adam Del Deo, Richard Fischoff, Stephen Kelliher, Taylor Latham, Tiller Russell, Natalia Saenz, Robert Salerno, Gregory R. Schenz, Ameet Shukla, Scott Stone. Produção: Kelly Bush Novak, Julie Goldstein, Phil Hunt, Duncan Montgomery, Ellen Page, Compton Ross, Jack Selby, Michael Shamberg, Stacey Sher, James D. Stern, Cynthia Wade. Elenco: Julianne Moore, Ellen Page, Michael Shannon, Steve Carrell, Josh Charles, Luke Grimes. Estreia: 13/9/15 (Festival de Toronto)
Laurel Hester é uma detetive da polícia de Nova Jersei. Inteligente, corajosa e absolutamente dedicada ao trabalho, ela é respeitada pela corporação e pelos colegas, além de ser considerada uma das mais competentes policiais da cidade. Porém, sem que ninguém de suas relações profissionais saiba, Laurel é lésbica - e tem plena consciência de que assumir sua sexualidade em um ambiente machista e conservador pode ter consequências óbvias em sua carreira, como o deslocamento para o serviço burocrático e seu afastamento da lista de promoções. Mesmo quando se apaixona pela jovem Stacei Andree, que trabalha como mecânica, Laurel sabe que precisa manter seu relacionamento o mais discreto possível, apesar de ser quase obrigada a dividir seu segredo com o parceiro, Dane Wells. Sua condição, no entanto, vem à tona no pior momento de sua vida: diagnosticada com um agressivo e incurável câncer no pulmão, a séria e responsável agente entra na Justiça para exigir que, após a sua morte, sua pensão fique com Stacei, assim como acontece como todos os casais heterossexuais da força policial. O preconceito e a burocracia ameaçam interromper o processo, mas a entrada em cena do militante gay Steven Goldstein - excêntrico, pouco discreto e barulhento - torna o caso algo de interesse nacional.
Foi logo que assistiu à história de Laurel e Stacei, no documentário em curta-metragem "Freeheld", dirigido por Cynthia Wade e vencedor do Oscar da categoria em 2008, que o roteirista Ron Nyswaner resolveu que ela precisava ser contada para um público mais amplo - e com um alcance maior do que o curta original. Também indicado ao Oscar - por seu trabalho em "Filadélfia" (93) - e autor do roteiro do telefilme "Um amor na trincheira" (2003), que narrava a trágica história real do amor entre um jovem soldado e uma transformista, Nyswaner parecia a pessoa mais adequada para explorar todas as dramáticas nuances de uma batalha jurídica que buscava, mais do que apenas justiça, o respeito e a igualdade. Tendo entre seus produtores a própria Cynthia Wade e a atriz Ellen Page - que assumiu sua homossexualidade durante as filmagens, oferecendo um senso extra de realismo ao projeto - "Amor por direito" estreou no Festival de Toronto de 2015 prometendo emocionar o público e dar a largada na disputa pelos principais prêmios da temporada (a saber, Golden Globo e Oscar). Não deu muito certo: saiu sem nenhuma estatueta nos festivais e foi ignorado tanto pela imprensa estrangeira em Hollywood quanto pela Academia - mais por ter sido lançado em um ano bastante disputado do que por falta de qualidades, ainda que o resultado final nunca seja mais do que apenas correto.
Com a direção do pouco conhecido Peter Sollett, cujo trabalho mais famoso é o cult jovem "Nick & Norah: uma noite de amor e música", de 2008, "Amor por direito" tem como seu principal atrativo o nome de Julianne Moore, no papel da corajosa Laurel Hester. Recém premiada com o Oscar de melhor atriz por seu desempenho em "Para sempre Alice", Moore mais uma vez entrega uma atuação caprichada, ainda que esbarre em um roteiro pouco inspirado. Talvez preso em sua tentativa de honrar a trajetória de sua protagonista, Nyswaner pouco ousa em sua narrativa, adotando uma linearidade que por vezes soa bastante apática. Demorando em finalmente chegar ao ponto - e explorando sem necessidade procedimentos policiais para enfatizar a dedicação de Laurel à carreira - o roteiro também parece ter medo de apelar para a emoção: em sua opção de evitar o sentimentalismo, "Amor por direito" falha em seu objetivo de comover o público, apesar do esforço de seu elenco. A história de amor entre Laurel e Stacei, acaba, portanto, sendo menos interessante do que sua batalha judicial por igualdade - um enfoque que acaba por tornar-se o ponto mais certeiro do filme.
Quando abandona o drama romântico para concentrar-se na luta de Laurel e Stacei por seus direitos civis, o filme de Sollett cresce, especialmente quando entra em cena o melhor personagem do filme, o gay judeu interpretado por Steve Carrell (em substituição à Zach Galifianakis). Ator revelado em comédias mas alçado ao status de ator dramático graças a interpretações surpreendentes em filmes como "Pequena Miss Sunshine" (2006) e "Foxcatcher" (2014), Carrell equilibra bem suas duas vertentes de atuação, transformando Steven Goldstein no catalisador de uma corrente de solidariedade e apoio às duas protagonistas mesmo quando seus exageros e extravagâncias correm o risco de por tudo a perder. Seu desempenho vibrante é o contraste perfeito da atuação discreta e sempre eficiente de Michael Shannon, que vive o parceiro profissional de Laurel com sutileza ímpar. Sempre que a história se concentra nas reuniões com os responsáveis por aprovar ou não o pedido de pensão para Stacei, o filme ganha humanidade e relevância - e de certa forma compensa a falta de química entre Julianne Moore e Ellen Page, duas excelentes atrizes, mas que parecem pouco à vontade em cena. Ainda assim, são convincentes o bastante para manter a atenção do espectador até o final. "Amor por direito" pode não ser o grande filme que prometia, mas sua importância e urgência é inegável.
Laurel Hester é uma detetive da polícia de Nova Jersei. Inteligente, corajosa e absolutamente dedicada ao trabalho, ela é respeitada pela corporação e pelos colegas, além de ser considerada uma das mais competentes policiais da cidade. Porém, sem que ninguém de suas relações profissionais saiba, Laurel é lésbica - e tem plena consciência de que assumir sua sexualidade em um ambiente machista e conservador pode ter consequências óbvias em sua carreira, como o deslocamento para o serviço burocrático e seu afastamento da lista de promoções. Mesmo quando se apaixona pela jovem Stacei Andree, que trabalha como mecânica, Laurel sabe que precisa manter seu relacionamento o mais discreto possível, apesar de ser quase obrigada a dividir seu segredo com o parceiro, Dane Wells. Sua condição, no entanto, vem à tona no pior momento de sua vida: diagnosticada com um agressivo e incurável câncer no pulmão, a séria e responsável agente entra na Justiça para exigir que, após a sua morte, sua pensão fique com Stacei, assim como acontece como todos os casais heterossexuais da força policial. O preconceito e a burocracia ameaçam interromper o processo, mas a entrada em cena do militante gay Steven Goldstein - excêntrico, pouco discreto e barulhento - torna o caso algo de interesse nacional.
Foi logo que assistiu à história de Laurel e Stacei, no documentário em curta-metragem "Freeheld", dirigido por Cynthia Wade e vencedor do Oscar da categoria em 2008, que o roteirista Ron Nyswaner resolveu que ela precisava ser contada para um público mais amplo - e com um alcance maior do que o curta original. Também indicado ao Oscar - por seu trabalho em "Filadélfia" (93) - e autor do roteiro do telefilme "Um amor na trincheira" (2003), que narrava a trágica história real do amor entre um jovem soldado e uma transformista, Nyswaner parecia a pessoa mais adequada para explorar todas as dramáticas nuances de uma batalha jurídica que buscava, mais do que apenas justiça, o respeito e a igualdade. Tendo entre seus produtores a própria Cynthia Wade e a atriz Ellen Page - que assumiu sua homossexualidade durante as filmagens, oferecendo um senso extra de realismo ao projeto - "Amor por direito" estreou no Festival de Toronto de 2015 prometendo emocionar o público e dar a largada na disputa pelos principais prêmios da temporada (a saber, Golden Globo e Oscar). Não deu muito certo: saiu sem nenhuma estatueta nos festivais e foi ignorado tanto pela imprensa estrangeira em Hollywood quanto pela Academia - mais por ter sido lançado em um ano bastante disputado do que por falta de qualidades, ainda que o resultado final nunca seja mais do que apenas correto.
Com a direção do pouco conhecido Peter Sollett, cujo trabalho mais famoso é o cult jovem "Nick & Norah: uma noite de amor e música", de 2008, "Amor por direito" tem como seu principal atrativo o nome de Julianne Moore, no papel da corajosa Laurel Hester. Recém premiada com o Oscar de melhor atriz por seu desempenho em "Para sempre Alice", Moore mais uma vez entrega uma atuação caprichada, ainda que esbarre em um roteiro pouco inspirado. Talvez preso em sua tentativa de honrar a trajetória de sua protagonista, Nyswaner pouco ousa em sua narrativa, adotando uma linearidade que por vezes soa bastante apática. Demorando em finalmente chegar ao ponto - e explorando sem necessidade procedimentos policiais para enfatizar a dedicação de Laurel à carreira - o roteiro também parece ter medo de apelar para a emoção: em sua opção de evitar o sentimentalismo, "Amor por direito" falha em seu objetivo de comover o público, apesar do esforço de seu elenco. A história de amor entre Laurel e Stacei, acaba, portanto, sendo menos interessante do que sua batalha judicial por igualdade - um enfoque que acaba por tornar-se o ponto mais certeiro do filme.
Quando abandona o drama romântico para concentrar-se na luta de Laurel e Stacei por seus direitos civis, o filme de Sollett cresce, especialmente quando entra em cena o melhor personagem do filme, o gay judeu interpretado por Steve Carrell (em substituição à Zach Galifianakis). Ator revelado em comédias mas alçado ao status de ator dramático graças a interpretações surpreendentes em filmes como "Pequena Miss Sunshine" (2006) e "Foxcatcher" (2014), Carrell equilibra bem suas duas vertentes de atuação, transformando Steven Goldstein no catalisador de uma corrente de solidariedade e apoio às duas protagonistas mesmo quando seus exageros e extravagâncias correm o risco de por tudo a perder. Seu desempenho vibrante é o contraste perfeito da atuação discreta e sempre eficiente de Michael Shannon, que vive o parceiro profissional de Laurel com sutileza ímpar. Sempre que a história se concentra nas reuniões com os responsáveis por aprovar ou não o pedido de pensão para Stacei, o filme ganha humanidade e relevância - e de certa forma compensa a falta de química entre Julianne Moore e Ellen Page, duas excelentes atrizes, mas que parecem pouco à vontade em cena. Ainda assim, são convincentes o bastante para manter a atenção do espectador até o final. "Amor por direito" pode não ser o grande filme que prometia, mas sua importância e urgência é inegável.
sexta-feira
99 CASAS
99 CASAS (99 homes, 2014, Broad Green Pictures/Hyde Park Entertainment, 112min) Direção: Ramin Bahrani. Roteiro: Ramir Bahrani, Amir Naderi, estória de Ramir Bahrani, Bahareh Azimi. Fotografia: Bobby Bukowski. Montagem: Ramin Bahrani. Música: Antony Partos, Matteo Zingales. Figurino: Meghan Kasperlik. Direção de arte/cenários: Alex DiGerlando/Monique Champagne. Produção executiva: Mohammed Al Turki, Ron Curtis, Manu Gargi, Arcadiy Golubovich. Produção: Ashok Amritraj, Ramin Bahrani, Justin Nappi, Kevin Turen. Elenco: Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Clancy Brown. Estreia: 29/8/14 (Festival de Veneza)
Em 2003, o cineasta ucraniano Vadim Perelman conquistou a crítica - e indicações ao Oscar de melhor ator, atriz coadjuvante e trilha sonora original - com sua adaptação do romance "Casa de areia e névoa", escrito por Andre Dubus III, que fazia uma crítica contundente às leis dos EUA relacionadas ao mercado imobiliário (e de quebra retratava a árdua luta dos imigrantes por uma vida digna). Mais de uma década depois, outro cineasta de origem estrangeira - Ramin Bahrani, nascido na Carolina do Norte mas filho de imigrantes iranianos - põe o dedo na ferida da especulação e da corrupção que corrói as entranhas do sonho americano. Inspirado em uma história real mas sem prender-se a nenhum tipo de compromisso de fidelidade com os desdobramentos da ação, Bahrani criou um drama angustiante e dolorosamente realista, que, amparado por uma atuação inspiradíssima de Andrew Garfield, emociona e incomoda sem fazer concessões ao dramalhão fácil. "99 casas" é, facilmente, um dos pequenos grandes filmes da temporada 2014 - e, como é comum, praticamente ignorada pelas cerimônias de premiação: Michael Shannon chegou a ser eleito o melhor coadjuvante do ano pela Associação de Críticos de Los Angeles e indicado ao Golden Globe e ao Spirit Award, mas a produção passou praticamente em brancas nuvens pelo cinema.
É compreensível: não deve ser nada fácil ser americano e assistir ao que acontece em "99 casas" - aliás, basta ter um mínimo de sensibilidade para ser atingido pelo drama do protagonista, Dennis Nash (Andrew Garfield), um jovem trabalhador na construção civil que, em dificuldades de encontrar um trabalho que lhe pague o bastante para pagar a hipoteca da casa onde mora com a mãe, Lynn (Laura Dern), e o filho pequeno, Connor (Noah Lomax). Com uma dívida maior do que suas posses, ele acaba por ser despejado - em uma sequência angustiante e tensa. Sem encontrar luz no fim do túnel, Dennis acaba sendo seduzido pela possibilidade de recuperar sua propriedade quando aceita trabalhar com Rick Carver (Michael Shannon), o corretor que cuidou de sua situação - e que se utiliza de métodos pouco ortodoxos e bastante ilegais de fazer dinheiro através de transações quase criminosas. Deslumbrado com a chance não apenas de ter de volta o seu lar, mas também de oferecer uma vida mais confortável para a família, Dennis começa a participar das ações de despejo comandadas por Carver - e questionar seus próprios limites morais e éticos ao reviver, em cada situação, o sentimento de desespero e fracasso dos moradores.
Com uma narrativa ágil e surpreendente, que não permite ao espectador que antecipe cada movimento do roteiro, Bahrani se mostra um cineasta de extrema competência em cativar seu público sem subestimar sua inteligência ou sensibilidade. Aproximando sua câmera do rosto angustiado de Dennis - em atuação sublime de Andrew Garfield - e obrigando o espectador a compartilhar com ele de toda a vastidão de sentimentos que lhe tortura, o diretor faz uso eficaz de suas ferramentas visuais ao mesmo tempo em que, através de sequências dramáticas que evitam a pieguice, discute temas como ética e moral em um momento crucial da história americana. Ao fazer de seu protagonista um personagem de dimensões humanas - e portanto passível de monumentais erros e capaz de gestos de grandeza - o roteiro também traça um interessante contraponto entre ele e seu patrão/inimigo/aliado Rick Carver, em mais um trabalho excelente de Michael Shannon: fugindo do maniqueísmo óbvio, Carver não é apenas um homem ganancioso e cruel, mas uma pessoa com um passado doloroso e que aprendeu, da pior maneira possível, que nem sempre ser bom e generoso é o melhor caminho para o sucesso. Sim, o grande vilão de "99 casas" não é Carver, e sim o capitalismo selvagem e devastador, retratado na figura de bancos e instituições financeiras que, como não é surpresa para ninguém, tem no lucro seu maior objetivo, ignorando sem piedade tudo que possa atrapalhar suas metas.
Mas, apesar de sua crítica radical aos métodos pouco humanos dos ferozes capitalistas, "99 casas" não é um tratado sociológico aborrecido e panfletário. Com pleno domínio da narrativa dramática, Ramin Bahrani conta sua história com o máximo de simplicidade e clareza, aproveitando ao máximo o talento de seus intérpretes e o tom emocional de sua trama. Andrew Garfield está sensacional na pele de Dennis Nash, preenchendo sua atuação com nuances e sutilezas que o colocam como um dos mais promissores atores de sua geração - coisa que sua indicação ao Oscar por "Até o último homem" (2016) apenas confirmou. Ao lado de atores experientes como Michael Shannon e Laura Dern, o jovem Garfield consegue sobressair-se sem esforço, explorando cada mínima possibilidade do roteiro e da direção sensível de Bahrani. Seu olhar melancólico, assustado, frustrado e raivoso diz muito mais do que páginas e páginas de diálogo - e o clímax do filme mostra que ele tem muitos mais truques na manga do que sua pouca idade pode fazer supor. Com sua interpretação inteligente, Garfield consegue melhorar ainda mais o belo e corajoso trabalho de Bahrani, um cineasta que parece ainda ter muito a dizer no futuro.
Em 2003, o cineasta ucraniano Vadim Perelman conquistou a crítica - e indicações ao Oscar de melhor ator, atriz coadjuvante e trilha sonora original - com sua adaptação do romance "Casa de areia e névoa", escrito por Andre Dubus III, que fazia uma crítica contundente às leis dos EUA relacionadas ao mercado imobiliário (e de quebra retratava a árdua luta dos imigrantes por uma vida digna). Mais de uma década depois, outro cineasta de origem estrangeira - Ramin Bahrani, nascido na Carolina do Norte mas filho de imigrantes iranianos - põe o dedo na ferida da especulação e da corrupção que corrói as entranhas do sonho americano. Inspirado em uma história real mas sem prender-se a nenhum tipo de compromisso de fidelidade com os desdobramentos da ação, Bahrani criou um drama angustiante e dolorosamente realista, que, amparado por uma atuação inspiradíssima de Andrew Garfield, emociona e incomoda sem fazer concessões ao dramalhão fácil. "99 casas" é, facilmente, um dos pequenos grandes filmes da temporada 2014 - e, como é comum, praticamente ignorada pelas cerimônias de premiação: Michael Shannon chegou a ser eleito o melhor coadjuvante do ano pela Associação de Críticos de Los Angeles e indicado ao Golden Globe e ao Spirit Award, mas a produção passou praticamente em brancas nuvens pelo cinema.
É compreensível: não deve ser nada fácil ser americano e assistir ao que acontece em "99 casas" - aliás, basta ter um mínimo de sensibilidade para ser atingido pelo drama do protagonista, Dennis Nash (Andrew Garfield), um jovem trabalhador na construção civil que, em dificuldades de encontrar um trabalho que lhe pague o bastante para pagar a hipoteca da casa onde mora com a mãe, Lynn (Laura Dern), e o filho pequeno, Connor (Noah Lomax). Com uma dívida maior do que suas posses, ele acaba por ser despejado - em uma sequência angustiante e tensa. Sem encontrar luz no fim do túnel, Dennis acaba sendo seduzido pela possibilidade de recuperar sua propriedade quando aceita trabalhar com Rick Carver (Michael Shannon), o corretor que cuidou de sua situação - e que se utiliza de métodos pouco ortodoxos e bastante ilegais de fazer dinheiro através de transações quase criminosas. Deslumbrado com a chance não apenas de ter de volta o seu lar, mas também de oferecer uma vida mais confortável para a família, Dennis começa a participar das ações de despejo comandadas por Carver - e questionar seus próprios limites morais e éticos ao reviver, em cada situação, o sentimento de desespero e fracasso dos moradores.
Com uma narrativa ágil e surpreendente, que não permite ao espectador que antecipe cada movimento do roteiro, Bahrani se mostra um cineasta de extrema competência em cativar seu público sem subestimar sua inteligência ou sensibilidade. Aproximando sua câmera do rosto angustiado de Dennis - em atuação sublime de Andrew Garfield - e obrigando o espectador a compartilhar com ele de toda a vastidão de sentimentos que lhe tortura, o diretor faz uso eficaz de suas ferramentas visuais ao mesmo tempo em que, através de sequências dramáticas que evitam a pieguice, discute temas como ética e moral em um momento crucial da história americana. Ao fazer de seu protagonista um personagem de dimensões humanas - e portanto passível de monumentais erros e capaz de gestos de grandeza - o roteiro também traça um interessante contraponto entre ele e seu patrão/inimigo/aliado Rick Carver, em mais um trabalho excelente de Michael Shannon: fugindo do maniqueísmo óbvio, Carver não é apenas um homem ganancioso e cruel, mas uma pessoa com um passado doloroso e que aprendeu, da pior maneira possível, que nem sempre ser bom e generoso é o melhor caminho para o sucesso. Sim, o grande vilão de "99 casas" não é Carver, e sim o capitalismo selvagem e devastador, retratado na figura de bancos e instituições financeiras que, como não é surpresa para ninguém, tem no lucro seu maior objetivo, ignorando sem piedade tudo que possa atrapalhar suas metas.
Mas, apesar de sua crítica radical aos métodos pouco humanos dos ferozes capitalistas, "99 casas" não é um tratado sociológico aborrecido e panfletário. Com pleno domínio da narrativa dramática, Ramin Bahrani conta sua história com o máximo de simplicidade e clareza, aproveitando ao máximo o talento de seus intérpretes e o tom emocional de sua trama. Andrew Garfield está sensacional na pele de Dennis Nash, preenchendo sua atuação com nuances e sutilezas que o colocam como um dos mais promissores atores de sua geração - coisa que sua indicação ao Oscar por "Até o último homem" (2016) apenas confirmou. Ao lado de atores experientes como Michael Shannon e Laura Dern, o jovem Garfield consegue sobressair-se sem esforço, explorando cada mínima possibilidade do roteiro e da direção sensível de Bahrani. Seu olhar melancólico, assustado, frustrado e raivoso diz muito mais do que páginas e páginas de diálogo - e o clímax do filme mostra que ele tem muitos mais truques na manga do que sua pouca idade pode fazer supor. Com sua interpretação inteligente, Garfield consegue melhorar ainda mais o belo e corajoso trabalho de Bahrani, um cineasta que parece ainda ter muito a dizer no futuro.
Assinar:
Postagens (Atom)
DESEJO PROIBIDO
DESEJO PROIBIDO (If these walls could talk 2, 2000, HBO Films/Team Todd, 96min) Direção: Jane Snderson ("1961"), Martha Coolidge...

-
EVIL: RAÍZES DO MAL (Ondskan, 2003, Moviola Film, 113min) Direção: Mikael Hafstrom. Roteiro: Hans Gunnarsson, Mikael Hafstrom, Klas Osterg...
-
UM ESTRANHO NO LAGO (L'inconnu du lac, 2013, Les Films du Worso/Arte France Cinéma, 100min) Direção e roteiro: Alain Guiraudie. Fotogr...
-
SOMMERSBY, O RETORNO DE UM ESTRANHO (Sommersby, 1993, Warner Bros, 114min) Direção: Jon Amiel. Roteiro: Nicholas Meyer, Sarah Kernochan, h...